1.
Berlim, essa cidade-palimpsesto, grande metrópole e laboratório da modernidade, onde a história alemã ostenta o seu lado mais trágico, foi construída e reconstruída na literatura, no cinema, no teatro, por grandes escritores, grandes cineastas, grandes dramaturgos. Aqui, é o poeta e ensaísta alemão, o mais consagrado da geração pós-Muro, Durs Grünbein, que se coloca à altura das grandes representações literárias de Berlim para descrever a cidade que «ressuscita uma e outra vez dos seus escombros».

O que é Berlim? Não é apenas a imprensa sensacionalista, que só raras vezes não tem resposta pronta para tudo, que precisa de uma definição. A sociologia extrai as suas palavras-chave dos anos 20, e, para os historiadores, o que há de novo na nova Berlim está ainda demasiado perto para que lhes seja possível muni-la de perspectivas. Eu diria que Berlim é um saco no qual desde há séculos foi enfiado tudo e mais alguma coisa, o ferro-velho da história e toda a espécie de farrapos urbanos, e também muitos princípios, sobretudo prussianos. Mas, por sorte, este saco tem um buraco, e, assim, a maioria das coisas cai constantemente e não se aguenta muito tempo. Calha bem viver aqui, pois não será a própria existência humana um tal saco esburacado? Berlim é o grande ramerrão colectivo sob a forma de uma cidade, uma zona pantanosa ocidental-oriental feita de muitos cafés de pequeno-almoço e espeluncas em pátios interiores, que orgulhosamente se designam a si mesmas como firmas. Berlim é um campo de manobras de dimensões metropolitanas, atravessado por muitas frentes invisíveis, que aqui se chamam bairros, uma estrutura rigorosamente tracejada, marcada na sua raiz pelo sentido de ordem axial de um arquitecto de guerra e pelos seus ecos, as ruas principais dos utopistas fiéis a Moscovo, o todo segmentado — já nos tempos do imperador — em imponentes blocos de apartamentos com vista para parques, repartições da ordem pública e parques infantis, onde se juntam pais desempregados que há duas ou três gerações tinham ainda de brincar aos soldados, e que hoje ficam por ali a ler jornais ou vão mexendo desajeitadamente nos seus telemóveis. Berlim era na origem um complexo militar pré-industrial, viveiro do Weltgeist1 e ao mesmo tempo o lugar onde ele foi eliminado com a maior eficácia, sempre uma espécie de estado pétreo de agregação, outrora bastião dos funcionários, a Europa Central como sede do Realismo Objectivo, outrora a capital gelatinosa de um reino ressurgente, mais tarde um monte de destroços para almas perdidas, hoje a sua zona federal de retirada, um sofá roído pelas traças à beira da estrada e um esventrado palácio da cultura, sempre alguma coisa de profundamente subterrâneo, um labirinto feito de bunkers e túneis do metro, nos últimos tempos refúgio de ressonantes festas techno, mas, mal se sai para a luz do dia numa das imensas zonas industriais abandonadas, caem os muros, vê-se a noite estrelada e, no dia seguinte, o mais estranho azul dentre os céus da Alemanha. Berlim é um vácuo que tem a capacidade de se encher sempre de novo com o que quer que seja, desde que possua suficiente valor de entretenimento. O que importa é que seja a capital, o que importa é estar no meio da acção no nenhures provisório, onde a música está a tocar — num dia metrópole, no outro Jericó. Berlim é o grande bluff, uma promessa que se quebra todos os dias. Uma cidade em que tudo está disponível a dobrar, até o alemão, Leste e Oeste, Ocidente e Oriente, um casal de gémeos siameses com pouca coisa em comum, a rede de transportes e o nome; e quem estiver disposto a suportar tudo isto falará disso tal como eu. Pois é mesmo isso o que tem de moderno: não podermos aqui agarrar-nos a nada. E, já agora, uma confissão: admito que tenho uma relação erótica com nomes de cidades. Basta que alguém diga Roma, Moscovo, Nova Iorque, Tóquio, e podem logo contar comigo. Cada cidade tem a sua fórmula de estimulação, o seu próprio factor de euforia, que só é perceptível pelos nervos, no cinema e no romance, por meio da fotografia, da pintura, da música, ou mesmo — em poemas. «A vertigem Berlim distingue-se de todas as outras vertigens pela sua grandeza desavergonhada», escreveu Bertolt Brecht a um conhecido, em 1920. E Walter Benjamin secunda-o: «Berlim é um instrumento maravilhoso, desde que alguém se esteja nas tintas para ele.»
"Berlim é o grande bluff, uma promessa que se quebra todos os dias. Uma cidade em que tudo está disponível a dobrar, até o alemão, Leste e Oeste, Ocidente e Oriente."
Em lado nenhum, a não ser em Berlim, este paraíso para impostores e vendedores de conversa fiada, teve alguma vez lugar o derradeiro relaxamento, para citar livremente Walter Serner. Aqui, o único estilo do que não tinha estilo consistiu sempre em fazer um grande estardalhaço, e a seguir promover um aborrecimento recíproco, mas tudo isto com uma perseverança de ferro e uma boa dose de sponsoring. Para Heiner Müller, um dos seus últimos bardos estóicos, Berlim foi literalmente «o cúmulo». O lugar em que a história alemã deu a pior volta que podia dar, e onde chegou ao seu fim, lamentavelmente, com um traque de Satanás.
«Em Berlim não se pode voltar a ser saudável», escreve Ernst Jünger a Gottfried Benn, nos anos 50. Mas este último já não podia concordar com ele, pois, quando recebeu o amigável conselho, há muito tempo que estava moribundo. Benn, o típico habitante de Berlim, com uma existência de pátio das traseiras alérgica a toda a publicity, avesso à mera ideia de viajar, a toda a pompa, cliente habitual do seu bar da esquina, que de certa maneira era um anexo do seu próprio consultório — são dele alguns dos versos pioneiros sobre esta cidade.
Num discurso pronunciado há cinquenta anos atrás, por ocasião das Berliner Festwochen sobre o tema «Berlim entre Leste e Oeste», encontra-se a desafiadora observação: «A Alemanha Ocidental deixa-se arruinar culturalmente pela simples razão de que Berlim já não existe.» Segue-se uma frase que resume numa única imagem o que há de perdido nesta cidade, a sua absorção: «Berlim», diz-se aí, «fica na floresta virgem, como Angkor, e as viagens até lá são expedições, empreendidas em parte por curiosidade, em parte por melancolia.» Esta era uma voz dos tempos do estado-das-quatro-potências, na altura em que uma das partes era uma ilha abastecida por Rosinenbomber2, e a outra uma praça de armas para um império que se estendia até aos confins da Mongólia. Durante muito tempo, esta parte traseira, o terreno e o campo abertos para oeste, foi a única a que tive acesso. Mas com o vaivém de divisão e provincianismo, zona de comunicação atlântica e fortaleza do deserto no margraviado do Brandemburgo, agora tudo isso já passou e foi esquecido em nome da rotina de uma cidade cosmopolita que nada quer saber da nostalgia, e, do futuro, apenas aquilo que é possível comercializar para o turismo. Neste ponto tenho de pensar novamente em Heiner Müller, que, tal como Benn e Brecht, morreu em Berlim, faz agora dez anos, e que eu conheci como elo de ligação com a exacerbada literatura das grandes cidades do século passado, com as suas convicções políticas e as suas sobreexcitações artísticas. Apesar de todas as advertências, até hoje, é isso que atrai os artistas para esta cidade, tanto os emergentes como os consagrados, e ainda aqueles que vivem de ambos: os exploradores e os compradores, os curadores e os seguidores. Nenhum deles pára realmente os bancos, mas, por um instante, todos tomam parte no seu jogo, às suas próprias custas ou às custas de outros. Comigo não foi diferente, também eu me fixei aqui um dia, com a esperança ambiciosa de encontrar em Berlim um mundo, e de me encontrar a mim nele.
"Para Heiner Müller, Berlim foi literalmente «o cúmulo», o lugar em que a história alemã deu a pior volta que podia dar, e onde chegou ao seu fim, lamentavelmente, com um traque de Satanás."

René Burri, The Kaiser-Wilhelm-Gedachtniskirche (Memorial ao kaiser Guilherme, nunca reconstruído após os bombardeamentos da II Guerra Mundial), 1959
© Fotografia: Magnum Photos
2.
Em nenhum lugar posso sonhar acordado como em Berlim. É a cidade em que passei o período mais longo da minha vida, onde conheço quase tudo, ainda que, com os seus edifícios em construção, ela engane constantemente a maioria dos residentes. Era-me familiar desde o primeiro instante, quando ali entrei há mais de trinta anos pela Warschauer Brücke. Desde então ela é para mim o quarto onde alguém passou já tantas noites e em que, mesmo na escuridão, se conhece cada centímetro, do tecto até ao chão. O sonhar acordado acomoda-se, quando acabam as surpresas. Então o olhar fica livre para as passagens do interior e do exterior — esses postos de controlo que existiram em Berlim durante o tempo em que foi a cidade do Muro. Para o mundo daquela altura, Berlim era uma cidade com muitas aberturas secretas. Havia portões coroados de arame farpado, por quilómetros a fio praias de areia do Brandemburgo, que incitavam a saltar para as faixas da morte3. Havia túneis de fuga e pontes onde espiões e prisioneiros políticos eram trocados a horas mortas. Agora todos estes lugares de tráfico e zonas obscuras desapareceram, juntamente com a compacta barreira de betão que naquela época mantinha o Oeste e o Leste num equinócio. Mas os pontos de passagem foram ainda preservados, basta apenas saber descobri-los. O habitante nativo deve à antiga divisão da cidade um padrão de comportamento que regula os seus devaneios até durante o dia. Orienta-se pelas fissuras no asfalto, pelos escarpamentos das casas. Seguem com um olhar entendido o traçado de antigas zonas industriais abandonadas, as falhas no projecto de urbanização, e não se deixam confundir pelos cartazes publicitários da metrópole. Com ele vão-se os sonhos de uma cidade destroçada, extenuada — uma cidade que ressuscita uma e outra vez dos seus escombros e das suas especulações fracassadas. Um pecado de construção atrás de outro, a cidade fica grávida de projectos sempre novos e megalómanos. Felizmente, há pontos de referência nesta improvisação incessante — regulam de forma fiável o trânsito do sonho. Num ápice podemos de novo seguir o traçado histórico e deixamo-nos levar através da pétrea cidade prussiana.
"Aqui, até as árvores são históricas. No Inverno, parece que todas elas andaram na guerra. Quando se vê a casca rachada, sulcada, pensa-se em estilhaços de granada."
Também as muitas línguas que aqui acariciam os ouvidos por todo o lado, nas ruas, contribuem em muito para sonhar. Predomina o inglês, claro, mas estão sempre no ar todas as línguas europeias, e algumas orientais. O russo é o baixo contínuo: ouve-se nas ruas de lojas onde estacionam as limusinas da Mercedes, caixões, polidos a alto brilho, de onde salta de repente, vivaço, um morto. Ouve-se perto das boutiques caras e nas escadas rolantes dos centros comerciais. Os chineses movem-se à volta das bancas de Currywurst nas quais, miraculosamente, toda a gente fala chinês. Só os turcos trocam entre si expressões em alemão, a maior parte das vezes cortadas aos bocados. As línguas fazem com que todos continuem a ser estrangeiros e descrentes. Basta uma viagem de metro e, apertado nos bancos ocupados por muitos e respeitáveis homens de barba, fica-se no exterior como num bazar que mistura as culturas. Algures sai-se para a luz do dia, ofuscado pelo sol procura-se uma torre de igreja que seja familiar, e vislumbra-se o bloco de apartamentos mais próximo, que se parece com todos os outros, e ainda assim não se parece com nenhum deles. Essa ínfima diferença é a garantia de que um sonhar acordado desperta nela de novo.

René Burri, Kreuzberg, 1959
© Fotografia: Magnum Photos
3.
É isto, Berlim: olha pela janela para qualquer lado e dás de caras com a história. Deixa-te ficar numa das muitas varandas de um dos muitos blocos de apartamentos e a cidade de pedra vira-se de frente para ti com os seus monumentos, os letreiros das ruas e as fachadas das casas, junto às quais o Weltgeist te pisca o olho. Até o homem que encontrou a expressão — o Weltgeist: uma força invisível que dá forma à história movendo-se através do mundo físico — não estava sentado num sítio qualquer, mas sim em Berlim, na cátedra do filósofo. Era a teoria certa para o histórico local do crime. Foi a partir daqui que partiram as ondas de choque que viriam a alcançar os cantos mais remotos do continente, e foi para aqui que regressaram, desenterraram o covil de ladrões, lavraram o terreno vezes sem conta, até que a cidade passou a ser um enorme monte de escombros.
Aqui, até as árvores são históricas. No Inverno, parece que todas elas andaram na guerra. Quando se vê a casca rachada, sulcada, pensa-se em estilhaços de granada, mas só se pensa nisso aqui, embora também noutros sítios o vento e a geada tenham deixado as suas marcas nas árvores. Mas aqui o vento sopra mais gélido à volta das esquinas das casas, e a chuva de Novembro fustiga o ar através da ramagem despida, como se viesse directamente das baixas planícies russas.
Uma palavra como «Volkspark»4 é apenas mais um eufemismo. Uma colina verde ergue-se — no Verão convida ao exercício do flirt sobre as toalhas estendidas. Os corpos despidos cintilam através dos arbustos — no Inverno a colina torna-se atraente como pista de trenós. Mas eis que por baixo dela se esconde uma montanha de escombros, impressionante o subsolo, o terreno revolvido por demónios, inundado de sangue. Vive-se ali anos a fio, na mais estreita vizinhança, até que o cão se põe a farejar ali à volta, o pé bate contra o betão rachado, uma viga de aço irrompe do solo. Na mudança das estações, a elevação alegrou o passeante, que tem então de ouvir: Ali havia um Flakbunker5, alto como uma torre e maciço como um templo assírio, que, com a dinamitação, após o fim da guerra, se desfez em duas metades. No meio deste caos, esculturas e pinturas do Renascimento desapareceram das colecções prussianas para todo o sempre. Pobre Giovanni Bellini, onde terá ido parar a Maria e o Menino, pobre Luca Signorelli, onde terão ficado o teu Pã e os seus companheiros? É longa a lista das obras de arte perdidas do Flakbunker de Friedrichshain.
Durante algum tempo foi mobilizada uma locomotiva que andava sobre estreitos carris — transportara os destroços em vagões de ferro. No Verão quente do ano de 1945, tinha-se debatido através das nuvens de poeira da cidade pulverizada, expondo-se sozinha a todos os riscos no fantasmagórico parque deserto. Mas não foi possível levar dali os escombros, mesmo enquanto ruínas mantiveram a sua posição de forma inflexível. A única opção foi enterrá-los. Foi decidido fazê- -los desaparecer sob uma rede de camuflagem, como um reactor nuclear depois da catástrofe. Liliputianas esforçadas — muitos dos homens da população da ilha tinham sido feitos prisioneiros de guerra pelos soviéticos — puseram mãos à obra, exércitos inteiros de mulheres diligentes com pás, alguns carros-lagarta pelo meio, e não descansaram até que a marca da vergonha ficasse coberta de terra até ao topo.
À noite, e especialmente ao luar, os contornos da colina ainda permitem vislumbrar a arquitectura monstruosa. Os castelos dos Hohenstaufen, que é possível visitar na Apúlia, parecem ter servido de modelo para os bunkers de Berlim, edifícios pré-fabricados de uma modernidade ameaçadora, com a sua obra-mestra, o Castel del Monte, no interior da cidade portuária de Bari. Aqui, no entanto, o material de construção não era o calcário brilhante, da cor do deserto, suave para as palmas das mãos, mas sim o cinzento e liso betão moldado, enrigecido com vários metros de espessura à volta de um esqueleto de ferro. Nenhuma invasão mongol conseguiu varrer fortalezas como esta, e mesmo a artilharia pesada nada mais podia fazer do que abrir pequenas feridas na pele do elefante.
O caminho estreita-se numa espiral, até ao ponto mais alto, ladeado por um parapeito de pedra. Aí sobressaem ainda das massas de terra amontoadas fragmentos da plataforma de bunkers. Volumosos, desafiam o desaparecimento a resistir. A vista estende-se a partir do cume sobre toda a área da cidade. Alguém que quisesse entrincheirar-se, um louco homicida, poderia muito bem fazê-lo lá em cima. Podia ter na sua mira os diferentes alvos com a serenidade do abrigo antiaéreo — a leste a estação e a nova Rock Arena, a oeste as zonas habitadas de Prenzlauer Berg. A esfera da Fernsehturm, que no sentido sul assinala a proximidade da Alexanderplatz, seria apropriada para um exercício de tiro.
Três Flakbunker deste tipo foram outrora colocados em pontos estrategicamente planeados de Berlim. Erguiam-se como castelos sobre a área circundante, lembrando à população a sua debilidade, um refúgio e uma ameaça ao mesmo tempo. Fizeram explodir o do Jardim Zoológico, que durante a guerra aérea deu abrigo a mais de 20 mil pessoas e que albergava também o busto de Nefertite, enquanto o de Friedrichshain foi enterrado — também aqui foram preservados tesouros artísticos dos museus de Berlim, e as ss lutaram obstinadamente, até ao último instante, por cada nicho da muralha. Intacto ficou apenas o bunker elevado do Humboldthain, pelo menos o seu flanco norte, no antigo bairro operário de Wedding, muito próximo da antiga fábrica da aeg, com a sua enorme e impressionante sala das turbinas.
Chegava-se até ali pelas escadas, a plataforma do abrigo antiaéreo circunda um corrimão onde as crianças podem fazer ginástica e onde podem também cair. A excitação faz parte da coisa, assim como a atmosfera sombria que se espalha sobre o resto do parque. Aqui as sombras ficam por mais tempo, o pulmão verde tem a sua laceração, recreação local é um belo jogo de palavras. Debaixo dos pés há terreno contaminado, lixo residual da tirania derrotada, que apesar disso não parece em nada ter já desaparecido, e é preciso ser algo estúpido para não o sentir. Às vezes, ao aterrar em Tegel, era possível ver, entre os pinheiros despidos no Humboldthain coberto de neve, a estrutura maciça do bunker, e não era uma visão exaltante.
Estes colossos eram a megalomania transformada em arquitectura — a verdadeira contribuição do Terceiro Reich para a cultura urbana moderna. Neles revelava-se com enorme clareza o lado operático, exibicionista-encenatório, a manifestação dos impostores. Nesta fase final, a cultura surgia apenas e tão-só como uma batalha material, medida em metros cúbicos de betão. Duzentos milhões devem ser instalados em todo o país sob a forma de abrigos antiaéreos. Quando se está diante destes blocos de betão, continua a soprar a alienação do mundo alemã, o carácter retrógrado, mesquinho de todos os planeamentos do nacional-socialismo da guerra, a tendência para o isolamento e para um enrolar-se sobre si mesmo, a terrível claustrofobia colectiva. A partir de Humboldt, foi sempre a descer, até que todos foram votados ao abandono, levados até ao mais baixo culto da morte, na armadilha mortal dos seus Flakbunker e abrigos antiaéreos.
E como já foi dito: é isto, Berlim, a cidade cansada da luta que não tem descanso. O Weltgeist colocou já os seus montículos por toda a parte. Este é o ninho em que a história desconhece qualquer intervalo, aqui reúnem-se os espectros da noite com a sua megalomania. O chão pode abrir-se facilmente, e tropeça-se em velhos antros de assassinos. Do céu cinzento goteja um repique de sinos a que ninguém presta atenção. É noite, sais para a varanda, a escuridão absorveu os contornos do monte do bunker em frente. A rua de Friedrichshain jaz silenciosa, com as suas filas de carros estacionados, exposta à luz amarela dos postes de iluminação.
*Tradução de Bruno Duarte



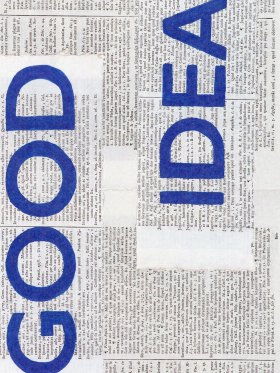

Partilhar artigo