Alexander Kluge, enquanto figura importante da cultura alemã desde os anos 60 do século passado, só pode ser apresentado com o recurso a uma pluralidade de nomes: escritor, cineasta, realizador e produtor de programas culturais para televisão, ensaísta, autor de livros de teoria social que nasceram do círculo intelectual e de investigação sociológica e filosófica de que fez parte — a Escola de Frankfurt. Foi nesse círculo que manteve uma proximidade intelectual e uma amizade com Adorno que marcam decisivamente a sua obra. Um livro de 1972, escrito com Oscar Negt, com um título longo (Öffentlichkeit und Erfahrung. Zur Organizationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit; a tradução inglesa chama-se Public Sphere and Experience. Analysis of the bourgeois and proletarian public sphere), a prometer um discurso árido, com o sabor da dialéctica tão requintadamente cultivada pela teoria crítica de Adorno e Horkheimer, tem a marca evidente do ambiente teórico de onde nasceu. Mas a herança da Escola de Frankfurt que Alexander Kluge sempre assumiu abertamente foi elaborada na sua obra, com uma enorme inteligência, longe das cristalizações do epigonismo. Para além da pluralidade de campos disciplinares e artísticos que experimentou, está a singularidade da obra que em nenhuma das suas dimensões se deixa apreender nas formas canónicas dos géneros. A sua obra literária integra a ficção narrativa, a teoria, a crítica, a escrita memorialística, o apontamento histórico e tudo o que um escritor, um leitor, um espectador e um observador crítico da sociedade, dotado de finos instrumentos analíticos, pode convocar. O resultado é uma assemblage sob a forma de um conjunto monumental de fragmentos que vão constituindo constelações temáticas e convidam o leitor a fazer percursos sinuosos, não lineares, nesse edifício de muitas entradas, muitas saídas e virtualmente sem fim. De igual modo, os seus filmes (longas metragens, curtas metragens e, mais recentemente, micro-metragens) foram feitos à margem e contra os padrões da indústria cinematográfica. A sua primeira experiência no cinema foi como estagiário ao lado de Fritz Lang (ao qual foi recomendado por Adorno). Mas dessa iniciação iria emancipar-se com grande convicção, quando filmou as suas primeiras curtas metragens, no início dos anos 60. E em 1962 assinou um documento colectivo, o famoso Manifesto de Oberhausen que reclamava uma renovação do cinema alemão. A renovação fez-se e Alexander Kluge bastante contribuiu para ela, ao impor um estilo de fragmentação narrativa (criador de histórias cinematográficas é aquilo que nunca quis ser, enquanto cineasta), inserindo imagens de arquivo, sobrepondo palavras nas imagens, utilizando processos que desrespeitavam completamente os códigos da ficção cinematográfica. Com alguma razão ele dirá que é um iconoclasta (mas acrescenta: «um iconoclasta moderado»). E quando fez uma pausa longa nas lides cinematográficas e se lançou, através de uma produtora que ele próprio fundou, no audiovisual para a televisão (fornecendo aos canais privados programas culturais que elas estavam, por lei, obrigados a difundir), também aí se revelou um inovador que conseguiu subverter os códigos e os conceitos televisivos. Tiveram um enorme sucesso, e permanecem como obras exemplares, os diálogos filmados (e entretanto transcritos em livro) com outro escritor maior da literatura alemã contemporânea, o seu amigo Heiner Müller. Nestes trabalhos de diálogo e cooperação (palavras muito próprias do seu vocabulário teórico), integrou também, de várias maneiras e em várias ocasiões, artistas alemães seus contemporâneos: Gerhard Richter, Baselitz, Anselm Kiefer.
A passagem à literatura deu-se cedo e não se pode dizer que Kluge prosseguiu as vias do cinema por outros meios. Sempre afirmou que há uma diferença irredutível entre a arte das imagens e a arte das palavras e que não transitou de uma para a outra como se seguisse uma via contínua e directa. Os milhares de páginas da sua escrita literária são feitas de toda a matéria do mundo: a história, a política, a cultura, a literatura contemporânea e de todos os tempos (a literatura latina, e muito especialmente Ovídio, ocupa um lugar importante no seu panteão e na sua oficina textual), tudo faz parte dessa sinfonia monumental, em vários volumes, que se chama Crónica dos Sentimentos. E assumindo a responsabilidade de se confrontar com os fantasmas alemães do pós-guerra, Alexander Kluge fez um trabalho de analista e arqueólogo que desenterra o que está submerso. Iniciou quase sozinho essa tarefa de lidar com o passado alemão. Não apenas o passado mais recente: ele achou que devia contar a história infeliz da Alemanha, seguindo esta convicção: «A história alemã, até nas suas raízes, é um laboratório da infelicidade ». Mas a história alemã não é um território delimitado na crónica que acompanha o curso da vida e das histórias infinitas de que é feita a história da Europa, da Antiguidade grega aos nossos dias. Alexander Kluge sente-se contemporâneo de Ovídio e faz com que o poeta russo Mandelstam também o seja. Toda a sua obra consiste na criação de cronologias que não são as do calendário nem as da concepção linear da História. Ele estabelece sincronias paradoxais, faz de Marx um contemporâneo de Joyce, continuando assim um projecto cinematográfico de Eisenstein nesse filme singular, imenso, um filme-fleuve de 570 minutos, que se chama Notícias da Antiguidade Ideológica: Marx, Eisenstein, «O Capital» (2008). Prosseguir o trabalho dos grandes autores que o antecederam, fazer abreviações dos grandes romances da literatura ocidental: eis a tarefa que Kluge assumiu com um sentido crítico em relação ao tempo em que vivemos que o leva a diagnosticar uma «inquiétance» do tempo. Esta estranha palavra surge no subtítulo da tradução francesa do Livro II da Crónica dos Sentimentos: «Inquiétance du temps». E, em Paris, onde esteve no final de Setembro para apresentar este livro que tinha acabado de ser publicado em França (uma edição que não é meramente uma tradução, é uma reconstrução da sua obra literária) repetia com grande entusiasmo a palavra «inquiétance» (ainda que falasse sempre em alemão), como se fosse um conceito. Foi precisamente nessa ocasião, em Paris, que esta entrevista foi feita.







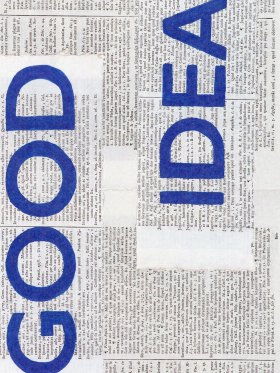
Partilhar artigo