Rosi Braidotti é uma feminista italo-australiana (nasceu na Itália em 1954, mas cresceu na Austrália e estudou filosofia na Universidade de Camberra), com um percurso intelectual de enorme importância, mas tardiamente descoberto e reconhecido para além dos círculos estritos, no campo dos women’s studies. Ela foi, aliás, uma das fundadoras de uma rede europeia de estudos femininos e de género chamado Athena, um projecto que lhe valeu o Prémio Erasmus da Comissão Europeia, em 2010. A sua obra filosófica seguiu a par de um forte activismo político-social, na Europa, pelos direitos das mulheres e é indissociável do seu papel pioneiro ao fundar na Universidade de Utrecht, na Holanda, um departamento de women’s studies, do qual foi directora de 1988 a 2006. A sua colaboração em revistas feministas radicais tinha começado ainda na Austrália, em meados dos anos 70, de onde partiu, em 1978, para Paris, onde foi encontrar o ambiente cultural da filosofia pós-estuturalista, muitas vezes etiquetada «filosofia da diferença», e a geração feminista que se moveu nessa constelação (Luce Irigaray, Hélène Cixous, etc.). Dessa época de grande efervescência teórica, permaneceram com carácter de referência para o projecto filosófico de Rosi Braidotti, duas grandes figuras: Foucault e sobretudo Deleuze (muito especialmente a leitura deleuziana de Espinosa). Falamos em «projecto» porque é essa a palavra que Braidotti costuma utilizar para se referir à sua elaboração teórico--filosófica do conceito de nomadismo, numa trilogia que começa em 1994 com Nomadic Subjects. Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory, a que se seguiu Metamorphoses (2002) e Transpositions (2006). Posterior a esta trilogia, mas talvez representando o ponto culminante dela, está o mais recente The Posthuman (2013). O «pensamento nómada» de Rosi Braidotti é um pensamento altamente comprometido com o presente. O conceito de nomadismo (cuja genealogia pode ser encontrada no conceito de rizoma, de Deleuze e Guattari) fornece a Braidotti o instrumento capaz de fazer uma leitura do presente, quase uma cartografia, na medida em que ele é dotado de grande capacidade analítica e de um elevado teor crítico. A filósofa começa pela formulação de um sujeito nómada e estende o potencial crítico do nomadismo (em suma, a crítica das entidades e identidades fixas: por exemplo, o eurocentrismo) ao plano da cultura, da política, da sexualidade e da ética. Nesta entrevista, fácil é perceber que o «feminismo nómada» de Rosi Braidotti implica alguma distância em relação à teoria do género e, por conseguinte, em relação à filósofa americana que levou a questão do género mais longe em termos teóricos e com efeitos mais profundos: Judith Butler. Braidotti pretende pensar a sexualidade para além do género, uma sexualidade que não seja desencarnada e que tenha em conta a materialidade dos corpos e as suas inscrições sociais, políticas, subjectivas. Ao mesmo tempo que define a condição de algumas categorias fundamentais na época do capitalismo avançado.
Rosi Braidotti é filósofa e feminista. No seu percurso filosófico, esta mulher italo-australiana atravessou algumas estações fundamentais do feminismo contemporâneo, desde Simone de Beauvoir, mas seguiu o seu próprio caminho, que é o de alguma distância em relação às conhecidas elaborações da teoria do género (nomeadamente as de Judith Butler) e o da crítica das fixações identitárias. Por isso, a sua voz soa de maneira um pouco excêntrica, como se percebe nesta entrevista.

Rosi Braidotti
© DR
ANTÓNIO GUERREIRO Escreveu um texto sobre o seu percurso intelectual intitulado «Untimely» para um livro colectivo sobre a sua obra (The Subject of Rosi Braidotti. Politics and Concepts). Desde logo, o título sugere a reivindicação de um pensamento intempestivo. E, no entanto, fornecer instrumentos conceptuais para uma leitura do presente é a tarefa que a motiva…
ROSI BRAIDOTTI Antes de mais, há um elemento contextual: este texto foi escrito como posfácio a um volume de homenagem e celebração pelos meus 60 anos. Aí, fiz uma espécie de comentário à minha existência num espírito muito à Blanchot, como se eu já não estivesse cá, como se o sujeito tivesse já sido evacuado. Foi não apenas um exercício de estilo, mas também de pensamento muito complexo e muito doloroso, que me permitiu traçar as linhas centrais da minha obra, do meu trabalho, da minha investigação, das quais eu estava consciente ao nível conceptual, mas talvez um pouco menos ao nível afectivo. Este pensamento intempestivo consiste em nadar contra a corrente, em oposição, mas ao mesmo tempo, ele quer-se afirmativo e não niilista ou negativo. Devo muito ao génio da geração dos filósofos com os quais estudei, o primeiro Foucault, mas sobretudo, de uma maneira muito forte, o pensamento de Deleuze e uma parte de Luce Irigaray, antes de ele entrar na sua fase um pouco espiritualista de mais para o meu gosto. Sobretudo a revisão do espinozismo, por Deleuze e Guattari, e o primeiro Negri tiveram um grande efeito sobre mim. Esse espírito que passa por Nietzsche e Espinosa, revisto pela filosofia francesa dos anos 60 e 70 e revisitado pelo feminismo comprometido com o presente, com o mundo tal como ele existe, pode bem enquadrar o meu projecto: estar à altura do presente, mas um presente que não é simplesmente o actual, é também um virtual, sempre um devir. Ele olha para o passado e para o futuro. Penso que este compromisso com o direito das mulheres e os direitos humanos está no centro desta relação complexa com a resistência.
AG Chegou a França em 1978, vinda da Austrália, e encontrou a geração feminista do pós-estruturalismo, da filosofia da diferença. Mas depois distanciou-se e encontrou o seu próprio caminho. Poderia descrever este seu percurso?
RB É muito complexo. Com efeito, em 1978 o refluxo dos acontecimentos do Maio de 68 estava em curso. Em 1980, François Mitterrand chega ao poder e será o fim da esquerda militante. Eu vivi esse momento de transição em que, na sequência de um falhanço parcial do Maio de 68, os activistas, os intelectuais e os professores procuravam encontrar alternativas à revolução que não tinha funcionado. E penso que é muito importante. Quase ninguém festeja os cinquenta anos do Maio de 68, essa revolução que falhou, mas que, ainda assim, mudou o mundo e implicou no plano filosófico uma busca de alternativas, por exemplo o regresso a Espinosa e uma rejeição de Hegel e de um certo marxismo. Era um momento de transição, de mutações e de mudanças que levaram a esquerda ao poder. E nessa esfera o radicalismo dos anos 70 foi revisto por diversos grupos. No que diz respeito ao feminismo, havia uma forte influência da psicanálise. O que se passou em França, os movimentos das mulheres e o movimento psicanalítico, permitiu-me compreender o que que se passa, por exemplo, no plano identitário, o que é uma identificação.
AG «Identidade» tornou-se actualmente um conceito proliferante…
RB Sim, fala-se muito de identidade, de política identitária, mas banalizou-se bastante o que é uma identificação, como funciona o imaginário, como é que o processo inconsciente estrutura o social, os níveis fantasmáticos, os níveis do delírio. Havia uma espécie de espírito de seriedade, de sobriedade, que nos vinha da psicanálise e que provocou muitas divisões no movimento das mulheres. Em 1970, em França, havia movimentos feministas lacanianos com muitas diferenças entre eles, sobretudo no que diz respeito à maneira de pensar a relação entre a estrutura do inconsciente e a política. Todo o fenómeno Lacan gira em torno disso, tendo dado origem a conflitos muito fortes no plano teórico, mas também no plano pessoal, entre as mulheres do feminismo francês, entre Cixous e Irigaray, entre Cixous e Beauvoir, enfim, toda uma série de querelas. O feminismo da diferença nunca existiu, foi inventado em tradução, quando os americanos descobriram de uma maneira oportunista esses novos textos e os traduziram como representantes do new French feminisms. Eles fizeram um pouco a mesma coisa com a filosofia francesa, que traduziram como French theory, o que é uma maneira de matar o que é vivo e criativo. São questões de marketing. Os americanos inventaram um «feminismo da diferença», que nunca existiu. Há uma grande variedade de maneiras de ligar a realidade social aos fenómenos do inconsciente, às identidades. Basta fazer uma comparação entre Kristeva, uma lacaniana de direita, e Irigaray, uma lacaniana de esquerda, para termos dois mundos completamente diferentes, ainda que para as duas seja central a estrutura conceptual lacaniana, muito patriarcal, em que tudo gira em torno do phallus e do mandamento «não pôr em causa o meu phallus» senão haverá caos, anarquia e psicose. A minha impaciência com este pensamento foi imediata. Frequentei os seminários de Deleuze, na mesma época em que trabalhava com Luce Irigaray, e Deleuze fez, com Guattari, no Anti-Édipo, a crítica do pensamento lacaniano.
AG E foi com Deleuze que começou o seu projecto de um nomadismo feminista?
RB Trata-se essencialmente da crítica das identidades fixas, rígidas e fortes, porque as vi também nos movimentos feministas. Nenhum movimento político está a salvo do fascínio pelo poder, e até um génio como Simone de Beauvoir parte de estruturas de pensamento hegelianas, marxistas, ou de identidades e subjectividades fortes. Hoje, as pessoas estão fatigadas de tanta fluidez e há um regresso às estruturas fixas do fascismo. E isso acontece também na esquerda, que não está isenta de pequenos ditadores. Vi essa deriva totalitária no interior dos movimentos ditos progressistas, ditos radicais. A ideia de ir ao interior do processo de mudança, da complexidade, da multiplicidade, do movimento, da relação com os outros, tudo isso me parecia absolutamente essencial. E essencial também no que diz respeito a um outro projecto que me diz muito e que agora atravessa um momento muito difícil: o projecto europeu. O nomadismo é uma crítica dos nacionalismos, incluindo o nacionalismo europeu que está no centro de uma certa ideia da Europa como o centro do mundo, o coração da civilização, o lugar onde as Luzes conduziram a humanidade a um enorme progresso, através da razão e da ciência. Trata-se de um discurso muito autocomplacente, muito auto-elogioso, e ao mesmo tempo são quase sempre omitidas as ressonâncias das implicações coloniais e imperialistas desse eurocentrismo completamente narcísico. Por um lado, nega-se que a nossa riqueza e o nosso bem-estar vem dos impérios que construímos e que continuamos ainda a defender; por outro, temos um discurso que nos situa no centro do mundo e nos distancia da miséria do mundo. É um discurso completamente duplo, psicótico, que vemos hoje em acção no discurso sobre os imigrantes e os refugiados, em que a ignorância abraça a arrogância. Por vezes, há até um desconhecimento de que tínhamos impérios.
[...]


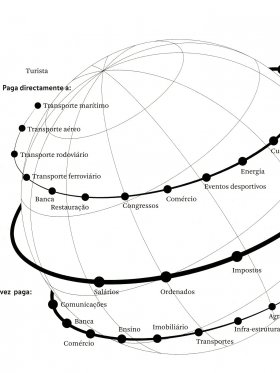
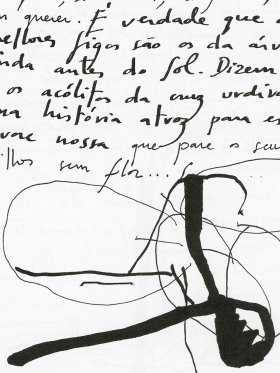

Partilhar artigo