Tendo em conta esta passagem de Benjamin, tão fecunda e múltipla em sugestões de pensamento crítico, a ideia de que a arquitectura nunca foi inútil é retomada (e reaberta), nesta edição da Electra, pelo conceituado arquitecto e curador Mark Wigley, num ensaio muito original sobre a arquitectura ociosa e sobre a arquitectura da ociosidade. Este texto pode ser lido no dossier desta edição, dedicado aos temas «Ócio e lazer».
É hoje evidente que, desde a primeira metade do século XX, os regimes de lazer, na sua relação com os regimes de trabalho, sofreram mudanças que, com as transformações económicas, sociais e culturais havidas e a haver, alteraram profundamente a própria natureza do lazer, nos seus valores, práticas, modalidades e significados. Actualmente, os tempos e os espaços do lazer (e também do trabalho) são muito diferentes do que foram sendo ao longo de séculos.
Esta mutação radical institui um novo tipo de visão e de administração do tempo, constituindo-se como um dos traços que ajudam a desenhar o perfil da «nossa grande época», como, com palavras de Karl Kraus e fazendo nossa a ironia delas, chamámos ao tempo que estamos a viver.
A Electra é, como diz um dos nossos lemas, «uma revista que se lê e que se vê». Mas é também uma revista que lê e que vê o mundo e o que o faz e desfaz.
É, muitas vezes, ao «lermos e vermos» o que se projecta e o que se constrói que conseguimos extrair do mundo a imagem que rege o discurso que nele vamos projectando e que sobre ele vamos construindo.
Pode até defender-se que a arquitectura não é apenas a sua teoria e a sua prática, pois é uma causa e um efeito de muitas outras coisas e um espelho móvel que as reflecte. Associa-se a ela e ao que representa uma terceira noção — a de themata (singular: thema). Quem a concebeu e enunciou foi o físico americano, professor da Universidade de Harvard e historiador da ciência Gerald Holton, investigador e profundo conhecedor da obra e do arquivo de Albert Einstein.
Usando esta noção na arquitectura — e adequando o seu significado —, por esta palavra podem designar-se concepções, referências, métodos, percepções, termos que influenciam ou condicionam a actividade individual ou colectiva dos arquitectos. Os themata podem alcançar uma influência determinante no pensar, no sentir e no agir, estabelecendo orientações ou definindo polarizações que ganham poder sobre a actividade (investigação, criação, projecto, construção) desenvolvida por um arquitecto ou por uma comunidade de arquitectos de um determinado tempo, de um certo lugar, ou de um dado meio.
Representando valores e crenças, gerando atracções e aversões, impulsionando convicções e preconceitos, sejam de natureza estética, técnica, estilística, artística, sociológica, política, religiosa, os themata são quase sempre inconscientes ou involuntários e quase nunca explícitos ou enunciáveis nas conferências, nas publicações ou nas exposições sobre arquitectura, mas influenciam e condicionam poderosamente a actividade teórica e prática da arquitectura, interferindo quer na construção de teorias próprias, quer na reacção (de aceitação ou rejeição) às propostas ou soluções alheias, sejam conceptuais ou práticas.
Como esclarece o investigador em filosofia da ciência João Barbosa, no seu artigo sobre themata e paradigmas, os themata têm uma índole simultaneamente intelectual e emocional, subjectiva e objectiva, funcionando como guias, consignas, orientações, predisposições, preferências, crenças, memórias, fascínios, ditames. São motivos persistentes, ligam a arquitectura a diversas disciplinas, à sua história passada e ao contexto presente dela e das outras.
Como refere ainda este investigador, os themata estão sujeitos a ciclos de ascensão e declínio, de afirmação e de ocultação. Atravessam vários domínios do saber e da cultura. Tocam o inconsciente colectivo de Jung e a episteme de Foucault. Têm uma vida longa e uma vocação transversal e até universal. Funcionam muitas vezes num fundo cultural comum, quer singularmente, quer em pares dialécticos de antíteses (thema / antithema), como, por exemplo, as díades fixo-móvel ou sonho-realidade, quer em tríades, como maior-igual-menor.
O mesmo thema pode ser reconhecido em disciplinas tão diversas como a arquitectura, a psicologia, a literatura, as ciências ou as artes visuais. Assim, por exemplo, a simetria é um thema recorrente e fundamental na arquitectura, na física, na matemática, nas artes plásticas. Outro exemplo: a harmonia é um tema fundamental na arquitectura, na saúde, nas artes plásticas e decorativas, na música, na psicologia, na religião, na política.
Não é possível, depois do Romantismo, falar de arquitectura e do imaginário que lhe corresponde, esquecendo o sonho que nela fermenta como num vinho. Para termos a lembrança disso, bastam-nos os oníricos e audaciosos castelos mandados erguer pelo rei Luís II da Baviera. Fernando Pessoa, a quem Eduardo Lourenço chamou «Rei da nossa Baviera», deixou-nos no Livro do Desassossego esta pergunta ao mesmo tempo melódica e melancólica: «De que coisa essencialmente divina são os castelos que não são de areia?»
Ao longo da história da literatura, muitos escritores fizeram da arquitectura um dos vislumbres fundamentais das suas obras. Um dos conhecidos colóquios do Cerisy foi dedicado, em 2014, ao tema «Arquitectura e literatura».
Até já houve quem, com excessivo voluntarismo e exagerado simplismo, distinguisse e classificasse os escritores em duas categorias: os que são escritores do espaço e os que são escritores do tempo. Seja como for, nas obras de muitos escritores do século XX, a arquitectura assume-se como um tópos fundamental.
Entre vários outros escritores, podemos mencionar Marcel Proust, Franz Kafka, Robert Musil, Virginia Woolf, André Gide, Louis Aragon, Jorge Luis Borges, Julien Gracq, Marguerite Yourcenar, Georges Perec, Julio Cortázar, Italo Calvino, Michel Tournier, José Saramago, Yukio Mishima ou Bret Easton Ellis.
Numa das Seis Propostas para o Próximo Milénio, Italo Calvino fala surpreendentemente da sua obra literária como, com a adequada adaptação terminológica, um arquitecto poderia falar da sua obra de arquitectura:





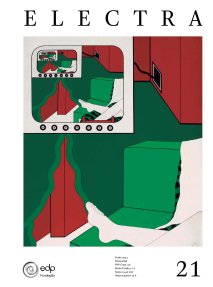



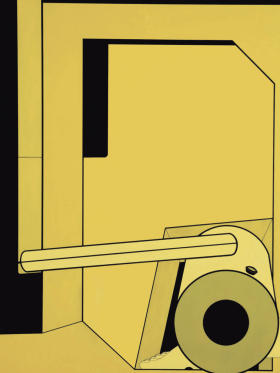
Partilhar artigo