O Brasil é a terra do futuro, escrevia Stefan Zweig em 1939. Menos optimistas, Déborah Danowski e Eduardo Viveiros de Castro sugerem que será antes o futuro da Terra, feito de contaminação, desastres ecológicos, migrações incontroláveis e pobreza generalizada, que se assemelha ao Brasil.
Autora de ensaios sobre Leibniz e Hume, Danowski lecciona Filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Viveiros de Castro, teórico do «multinaturalismo» e do «perspectivismo ameríndio», é um dos antropólogos mais influentes do mundo: ensina na Universidade Federal do Rio de Janeiro e deu cursos nas universidades de Cambridge, Chicago e na ehess, em Paris. Ambos muito activos na frente ambientalista, carregaram essa sua causa com uma voltagem teórica que tem, também ela, raízes comuns num livro, escrito a duas mãos, intitulado Há Mundo por Vir? Ensaio sobre os medos e os fins (2014).
Este trabalho penetrante e inovador, muito admirado por Bruno Latour, enfrenta o tema mais urgente e difícil que existe, ou seja, aquilo a que chamamos, para usar o termo difundido pelo Prémio Nobel Paul Crutzen, «Antropoceno»: a era das assustadoras alterações ambientais produzidas pelo homem. É certo que Danowski e Viveiros de Castro não têm ilusões: o nosso tempo é o tempo do fim. Armados com um aparato teórico que consegue conjugar o «princípio desespero» de Günther Anders com a filosofia de Deleuze e Guattari (portanto, com a leitura deleuziana do sociomorfismo universal de Gabriel Tarde), as teses de Isabelle Stengers e as de Donna Haraway, lançam no entanto sobre este fim, e sobre a pilha de discursos em torno do fim, uma luz clarificadora. A sua brilhante análise detém-se nos dados inequívocos e alarmantes dos cientistas, mas volta-se também para o imaginário, examinando as nossas visões apocalípticas (quer publicadas em papel, como o romance A Estrada, de Cormac McCarthy, quer projectadas no ecrã, como Melancolia, de Lars von Trier ou O Cavalo de Turim, de Béla Tarr e Ágnes Hranitzky), e atribui por fim à teoria do perspectivismo uma função decisiva. O eco de algumas das mais belas páginas de Viveiros de Castro, de A Inconstância da Alma Selvagem (2002) ou de Métaphysiques cannibales (2009), ressoa aqui com uma tonalidade política perfeitamente explícita. Quando se trata dos índios, a coisa diz-nos mais respeito do que suspeitávamos.
O fim do nosso mundo, ou seja, do mundo ocidental e capitalista, não é o fim de tudo, advertem Danowski e Viveiros de Castro. E testemunho disso são precisamente os povos amazónicos a quem todas as coisas foram violentamente subtraídas e que, exterminados e reduzidos pelos conquistadores ao estado de «homens sem mundo» (numa expressão de Anders), souberam resistir — e continuam a resistir — inventando estilos e técnicas refinadas de sobrevivência, bem como mitos nos quais, ao contrário das nossos, o fim do mundo não coincide de todo com o fim da vida. Como conseguiram fazê-lo? Em primeiro lugar, porque sempre estiveram livres do nosso antropocentrismo dogmático e vivem sob o alerta do seu antropomorfismo universal. Cada ser (quer apareça aos nossos olhos como homem ou como animal) tem de facto, para os índios, uma alma humana; mais precisamente: cada ser vê-se a si próprio como um homem e vê como homem os da mesma espécie (nós mesmos podemos então ser animais, e animais devemos parecer certamente, por exemplo, do ponto de vista dos jaguares, que são, ao invés, homens uns para os outros), ao passo que vê os de outra espécie como um animal predador. Por outras palavras, quando olham para os outros seres vivos, os ameríndios sabem que os animais que têm diante de si se vêem a si próprios como homens, como índios, e devolvem o olhar vendo (no caso do grande felino) presas ou então (no caso de uma espécie mais fraca) poderosos espíritos canibais. De acordo com esta visão intersubjectiva, simultaneamente complexa e límpida, a outra espécie não é humana e, ao mesmo tempo, é (no «seu próprio departamento»). Portanto, cada interacção entre espécies torna-se uma «intriga internacional, uma negociação diplomática ou uma operação de guerra que deve ser conduzida com a máxima circunspecção». Por isso, os ameríndios jamais poderiam acreditar na política como acção unilateral sobre aquilo que os rodeia, nem conceber a natureza como um mero recurso. Eles, que não têm um Estado e não se reconhecem sequer como um povo, pensam, pelo contrário, que tudo é negociação, tudo é social, que a vida de cada indivíduo é uma autêntica associação de seres, e que a política e a sociedade não tratam do ambiente, antes coincidem, em certo sentido, com o próprio ambiente: «pensam que há muito mais sociedades (…) entre o céu e a terra do que sonham nossas antropologias e filosofias. O que chamamos de “ambiente” é para eles uma sociedade de sociedades, uma arena internacional, uma cosmopoliteia. Não há portanto diferença absoluta de estatuto entre sociedade e ambiente, como se a primeira fosse o “sujeito”, o segundo o “objeto”. Todo objeto é sempre um outro sujeito, e é sempre mais de um. Aquela expressão comum na boca dos militantes iniciantes da esquerda, “tudo é político”, adquire no caso ameríndio uma literalidade radical (…) que nem o manifestante mais entusiasmado das ruas de Copenhague, Rio ou Madri talvez esteja preparado para admitir.»
Os índios — sugerem ainda Danowski e Viveiros de Castro — podem servir- nos de exemplo inspirador. Viver na nossa situação tão complicada, cheia de nuances, difícil de definir, significa também para nós sobreviver, abandonar hábitos prejudiciais e atitudes suicidas em prol de uma forma de vida resistente, e significa sobretudo levar a cabo uma tomada de consciência: conhecer os fenómenos, receá-los, ou melhor, começar finalmente a ter todo o medo que é preciso para deles ter verdadeira consciência. E significa reconhecer as forças em jogo, considerando até os relatos ou os sermões espectaculares, e os seus efeitos e ressonâncias; ter em conta, entre outras coisas, a entrada «espectacular do Vaticano na discussão» ou a aparição contemporânea do Manifesto Eco Modernista (An Ecomodernist Manifesto), «documento encabeçado pelo Breakthrough Institute e subscrito por muitas celebridades pró-capitalistas» mas, na verdade, nada distante das visões igualmente apologéticas de certos leninistas actuais. Também à esquerda, alguns — por exemplo, Nick Srnicek e Alex Williams, com o seu Manifesto Aceleracionista (Accelerate Manifesto for an Accelerationist Politics) — defendem, com efeito, que para sobreviver ao Antropoceno seria preciso «aproveitar [sic] cada avanço tecnológico e científico» do capitalismo tardio. Pensam que, contra a «fetichização da abertura, horizontalidade, e inclusão de boa parte da actual esquerda “radical”», se deveria recorrer a «sigilo, verticalidade e exclusão» para acelerar «o processo de evolução tecnológica », para «libertar as forças produtivas latentes»: como se estes avanços não consistissem na redução da técnica a um mero aparato de exploração (do homem e também da natureza), como se «evolução» fosse um valor indiscutível, como se «produção» não significasse destruição do mundo e, enfim, como se certos argumentos não tivessem já sido ridicularizados há cinquenta anos, precisamente por marxistas mais avisados (desde logo por Jean Fallot).
Para nos salvar das nossas mitologias nefastas, enquanto o globo reage ao nosso domínio com a violência de um gigante enlouquecido, os índios virão do futuro próximo ao nosso encontro. Há Mundo por Vir? é o seu mensageiro. E acerca deste livro, e do mundo perdido e possível, tivemos a oportunidade de conversar com Danowski e Viveiros de Castro.

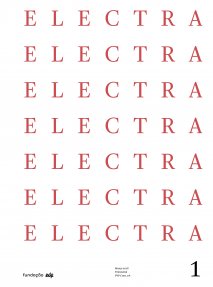


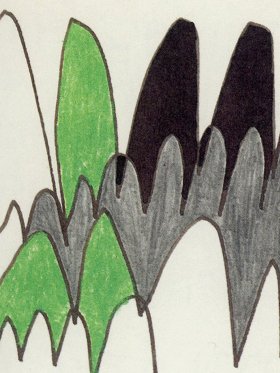
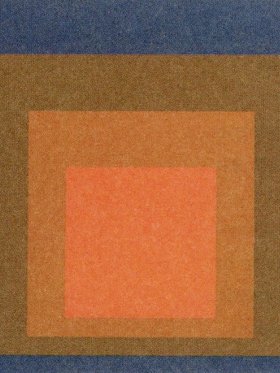
Partilhar artigo