A (bela) história da genealogia do dinheiro proposta por John Locke no seu Segundo Tratado do Governo (1690) é bem conhecida. Imaginemos que te apetece trabalhar muito no mês de Outubro e que apanhas mais maçãs do que tu e a tua família conseguem comer durante o resto do ano. Vamos presumir que o teu vizinho, igualmente atarefado, apanhou uma grande quantidade de frutos secos. Porque é que não hás-de trocar algumas das tuas maçãs por alguns dos seus frutos secos? A vantagem dos frutos secos é que duram muitos anos, enquanto as maçãs apodrecem ao fim de poucos meses. Se o vizinho do teu vizinho andou a coleccionar conchas coloridas nas suas longas caminhadas pela praia, talvez queiras trocar algumas das tuas maçãs e frutos secos por algumas dessas lindas conchas, que não se vão decompor no teu tempo de vida (ou dos teus filhos). E se alguém por acaso achar a prata ou o ouro mais apelativos, porque é que havemos de os impedir de trocar frutos secos por prata, ou maçãs por ouro? Daqui decorre a implementação do dinheiro e, o que é mais importante, a legitimação da acumulação ilimitada de riqueza entre os humanos, diz Locke.
Com duas condições, no entanto. A primeira é que nada deve ser desperdiçado. Acumula tanto quanto queiras, mas não deixes estragar-se nada inutilmente: troca-o, para que outros possam dar-lhe uso — e assim fica tudo bem. Deste modo, o «capital» torna-se não só um eufemismo para o dinheiro, mas uma justificação moral para a sua acumulação infinita, uma vez que é infinitamente usado como investimento e reinvestimento. A segunda condição é a de que se deve deixar «tanto e tão bom para os outros». Esta condição é obviamente mais difícil de estabelecer e impor: várias gerações de teóricos da ciência política têm discutido o seu significado, alcance e implicações. Devemos confiscar algumas das propriedades dos (ultra) ricos assim que (desde que) alguns seres humanos se encontrem privados de bens essenciais? Devem as necessidades do meu vizinho limitar o meu direito a possuir bens? Como é que se prova ou refuta que há não só «tanto» mas «tão bom» para os outros?
No início do século XXI, a história de Locke deve ser lida e reinterpretada de forma ligeiramente diferente. A maioria dos que respondem a Locke defende (implicitamente) uma maior liberdade e igualdade no contexto de uma única geração. A minha acumulação de riqueza é questionada à luz das necessidades do meu vizinho. Mas e se se considerar também as minhas trisnetas (ou as dos meu vizinhos)?
Esta reformulação transgeracional foi preparada há muitos anos pelos intérpretes «descolonialistas» de Locke. Estes mostraram até que ponto a história das maçãs, frutos secos e conchas se apoiava na premissa de que «o mundo inteiro era a América» (para o homem branco, por volta de 1680): uma extensão não povoada e virtualmente ilimitada de recursos que podiam ser apropriados, explorados e extraídos sem olhar às consequências dessas extracções, nem à sustentabilidade da sua exploração. O dinheiro — isto é, prata e ouro, mas também notas e participações financeiras, já que os seus formatos modernos foram inventados no mesmo período — apoiou a sua hegemonia numa cegueira social, temporal e ecológica, excluindo não só os pobres, mas também as trisnetas (e as outras espécies com as quais coexistimos).
Esta não é a época do Antropoceno (já que apenas uma minoria dos «seres humanos» é responsável pela destruição ecológica que assola o nosso planeta) ou do Capitaloceno (já que a urss não cuidou melhor do seu ambiente do que a Europa Ocidental ou os eua), mas mais precisamente do Plantoceno2: a «Robinsonada» sobre os apanhadores de maçãs e os coleccionadores de conchas ofuscou convenientemente a transformação da América (e pouco depois do mundo inteiro) numa plantação globalizante, onde a escravatura foi oficialmente (senão efectivamente) abolida há um século, mas onde o impulso para substituir a biodiversidade pela monocultura, sob a promessa do lucro baseado em economias de escala, se mantém tão prevalente e destrutivo como sempre.
Daí a primeira lição: na sua função de apropriação e acumulação de valor, o dinheiro (sob a forma de «capital») não deve ser considerado medida de valor, uma vez que tem sido o principal vector de um abuso extractivista dos nossos meios naturais. Como Bruno Latour defendeu eloquentemente, o principal problema das trocas monetárias reside na sua pretensão de deixar as duas partes «quites» após a troca das quantidades acordadas3. Os meios em que vivemos estão estritamente reduzidos aos recursos contabilizáveis que os nossos cálculos económicos neles conseguem identificar. O valor determinado pelo dinheiro e outras transacções comerciais abrange apenas uma fracção do valor multifacetado de qualquer parte da natureza, mas eleva esta fracção ao estatuto de todo, uma vez que trata esta parte da natureza apenas de acordo com o seu preço. O extractivismo pode ser definido como a exploração de recursos sem a devida consideração pelas consequências remotas do seu uso, ou pelas suas condições de sustentabilidade. Locke só teve em conta a temporalidade da decomposição das maçãs, frutos secos e conchas, não a temporalidade da sua renovação. A sua história da genealogia e legitimidade do dinheiro está a demonstrar-se desastrosamente ecocida.
[...]
*Tradução de Ana Macedo



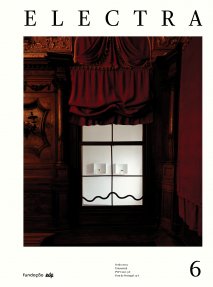
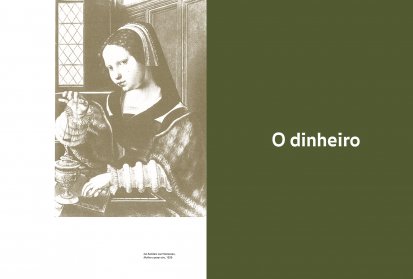



Partilhar artigo