Perante a obra de Lourdes Castro apenas o tempo parece dever ser evocado. Porém, tendemos a esquecer a inexorabilidade desse tempo (da sua passagem) na apreciação da obra da artista. Imaginamos então que, em vez de ser uma entidade que passa, esse tempo é, antes, realidade imutável; ou melhor, supomos que, nas obras de Lourdes Castro o tempo não se manifesta como um fluxo mas como um bloco; que não terá mesmo existido no decurso do processo produtivo. A criação destas obras parece-nos instantânea; somos levados a crer que são imunes quer ao tempo que passa sobre elas quer à revelação do tempo nelas mesmas, ou seja, que se situam fora do próprio tempo que incorporam (tempo de concepção, tempo de trabalho, tempo de existência, tempo de observação).
Cada obra de Lourdes Castro, quase independentemente do período de trabalho em que se integra, nos coloca neste paradoxo. Por que razão uma obra que lida com a sombra e com a luz, uma obra que pode ser mesmo entendida como feita apenas de sombra e de luz, duas realidades de total contingência espaciotemporal, nos pode induzir nesse erro de apreciação? A exposição que aqui se apresenta é mais uma oportunidade para confirmarmos o oxímoro de um tempo que não passa.
Cada imagem nos (a)parece (como) uma imagem pop-up; como se surgisse do nada e permanecesse na parede por suspensão (não apenas no espaço mas também no tempo) e permanecesse na vitrina por deposição (como uma folha descida da árvore) tornando certeiro o acaso do vento. Não será tanto um estatuto de geração espontânea das obras mas de colheita e exposição de uma realidade preexistente (como se houvesse uma naturalidade nas coisas da ordem cultural e uma ausência real de autoria no que Lourdes Castro nos apresenta). Isto vale para as caixas onde colecciona objectos da mesma família ou da mesma cor, unidos pela energia comum de um espaço e de um sentido (ou não-sentido?) concentrados; vale para as infantis pratas de chocolate planificadas; vale para as sombras projectadas dos seus amigos, dos objectos do seu quotidiano, das flores por si colhidas ou observadas; vale mesmo para as palavras dos poemas onde selecciona — coisas desenhadas, bordadas em lençóis, recortadas em plexiglas, de que vemos o direito, o avesso, a sombra, a silhueta, a transparência, a origem e o futuro numa só imagem… De facto, cada uma dessas imagens é como um feixe de luz no primeiro instante do seu trajecto ou um insecto preso no âmbar, paralítico no contínuo de um tempo cinemático que integra mas de cujo fluxo se exclui.
Cada imagem é um testemunho de extrema intensidade, simultaneamente de observação e de penetração — pois estamos no âmago do objecto e do corpo, na demonstração geométrica do gesto humano fixado e da natureza floral revelada. E, simultaneamente, é testemunho de extremo pudor e prudente distância: coisas e pessoas são tornadas transparentes, desfolhadas como flores, analisadas nos seus elementos e dispostas em camadas como cortes histológicos, como peles ou pétalas sucessivamente levantadas e repostas no seu lugar mas disponibilizadas ao nosso olhar. E, no entanto, ou por isso mesmo, nenhuma intimidade dos corpos se expõe, apenas os seus reflexos; e nenhum erotismo (do olhar e do toque que percorre e nos devolve o contorno dos corpos, desenhando-os) se revela também. As imagens de luz de Lourdes Castro aspiram à revelação pura dos corpos fora do tempo (mesmo que apresentados em acção; mesmo que essa acção os deite nos lençóis de uma cama; mesmo que sejam corpos e objectos dinamizados pela diversidade cromática dos plásticos). A artista captura a sombra mas, operando ao contrário do demónio que atormenta Peter Schlemihl, herói da novela do mesmo nome de von Chamisso, Lourdes salva, para a eternidade da arte, os corpos ausentes a que essas sombras pertencem.
Sob comissariado da curadora francesa independente Anne Bonnin, que desde há alguns anos segue com especial atenção alguns percursos portugueses (tais como os de Francisco Tropa ou João Queiroz) a exposição é apresentada no Musée regional d’art contemporain Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, em Sérignan, e recebeu um significativo apoio à produção e ao comissariado por parte da delegação em Paris da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), num teste à nova fórmula de apoio à produção externa de acontecimentos relevantes para a presença da cultura portuguesa em França. No catálogo e na programação paralela (conferências ou visitas guiadas) porém apenas consta o texto da comissária e nenhum encomendado a curadores do Museu Gulbenkian ou outros especialistas portugueses. Mas o museu, localizado fora dos grandes centros, goza de significativo prestígio o que permitiu que a exposição se repercutisse de imediato em órgãos tão importantes como, por exemplo, Le Quotidian de l’Art, Libération ou L’Oeil, onde foi recebida com espanto e entusiasmo.
O percurso proposto por Anne Bonnin é essencialmente linear, principalmente cronológico, o que se percebe no contexto de (quase) revelação que mesmo os que sabemos serem os nossos maiores artistas contemporâneos necessitam quando apresentados no exterior. Já tínhamos tido essa experiência com a recente exposição de Paula Rego, em 2018 (Orangerie, Paris) e em 2017 com a de Helena Almeida (Jeu de Paume, Paris). E esta é a primeira exposição monográfica de Lourdes Castro em França, país onde viveu entre 1958 e 1983, onde se relacionou com nomes maiores da arte europeia daquelas décadas e mereceu textos assinados por nomes decisivos da crítica francesa. Instrumento privilegiado dessa relação internacional foi a revista KWY, justamente mitificada como uma das mais extraordinárias aventuras editoriais do tempo. Editada em 12 números entre 1958 e 1964, em serigrafia, contou com a colaboração de mais jovens (Yves Klein, Carlos Saura, Corneille, Martial Raysse, Manolo Millares, Soto, Alberto Greco, Spoerri, Le Parc, Alechinsky) ou menos jovens (Vieira da Silva, Arpad Szènes) artistas internacionais ao tempo estabelecidos em Paris. Apesar da história de arte portuguesa associar neste grupo um conjunto mais restrito de nomes (João Vieira, José Escada, Costa Pinheiro, Gonçalo Duarte, Jan Voss e Christo, que chegaram a expor juntos sob a designação KWY), a responsabilidade quase exclusiva do trabalho da revista era de Lourdes e do seu marido, René Bertholo, que estabeleciam a linha editorial, pediam as colaborações e produziam, no seu pequeno apartamento, a totalidade da revista.
Na exposição, os momentos de apresentação desta e de outra documentação são significativos da diversidade e importância dos laços estabelecidos por Lourdes com o tempo certo da sua vida e obra; mas também da originalidade com que o fez. Lourdes dedicou atenção ao mundo, transformando os seus pormenores (formas, cores, gestos…) em universos. Mas, situando-os logo fora do tempo, abriu caminho à situação de afastamento radical que tem cultivado nas últimas décadas.
No andar superior há uma significativa continuação da exposição que dá especial atenção a algumas das já referidas pratas de chocolate planificadas e a experiências de livros de artista. As pratas de chocolate, ao serem apenas planificadas, não sendo propriamente integradas em colagens de imagens/materiais heteróclitos mas funcionando quase como meros arquivos de imagens, como simples papiers collés, servem para nos revelar os inesperados segredos da terceira dimensão (da modelação ou escultura em ronde-bosse), o momento original que precede a criação das formas. E, no entanto, apesar da simplicidade do procedimento, estas imagens são envolvidas em alguns casos por um mistério poético e noutros por uma leveza quase infantil que as exclui de qualquer secura arquivística. Por outro lado, nos «livros» são essenciais os diálogos entre imagem e texto e merecem destaque aqueles em que as letras são bordadas e nos dão, assim, o direito e o avesso das palavras, multiplicando-se em espelho os significados visuais e verbais de cada obra — para além da multiplicidade poética do que está escrito, temos a considerar como está escrito, sobre o que está escrito (especialmente no caso dos livros com folhas de plexiglas — criando outros exemplos do que designa como sombras transparentes), e o que se vê no verso das páginas, no avesso do bordado, espécie de «desescrita» essencial. E esta é outra leitura possível para o trabalho de Lourdes Castro, onde a luz e a sombra trabalham ao contrário da materialidade atribuída ao real, desencarnando os volumes, planificando os espaços, fixando os movimentos e anulando o tempo ao projectarem essas imagens em ecrãs imutáveis.
Regressemos ao primeiro piso. Depois de um percurso pelo conjunto da sua obra pictórica, das assemblages, recortes e mesmo de outros meios, como o bordado, a sala especialmente dedicada ao Grand Hérbier d’Ombres parece poder confirmar e mesmo aprofundar muito do que aqui se disse. A obra é muito particular no conjunto de trabalhos de Lourdes Castro pois ao mesmo tempo sugere um processo de total liberdade criativa e se submete à mais estrita observância dos métodos científicos de observação e classificação botânica — ao mesmo tempo simula rigor e exercita-o. Houve liberdade na escolha das plantas mas rigor na tentativa de esgotamento da recolha dos exemplares da natureza envolvente; houve liberdade nos métodos de fixação das plantas, obtidas como sombra sobre um papel heliográfico e não sujeitas aos métodos habituais de secagem mas rigor na sua disposição em página; finalmente, houve liberdade poética no título atribuído mas rigor na apresentação pública da obra, recolhida numa pasta própria, legendada segundo os critérios de qualquer herbário científico e apresentada numa estante especialmente desenhada para o efeito por Manuel Zimbro quando da sua exibição no Centro de Arte Moderna da FCG, em Lisboa, por ocasião da exposição que celebrou o Grande Prémio EDP, em 2002.
Eis que, em cada folha surge, impressa pela luz, a silhueta de uma e outra e outra planta (são cerca de cem). O processo tem um tempo certo (de procura, de colheita, de colocação, de exposição ao sol e de resguardo). No entanto, esse tempo processual desaparece na consciência final que temos de cada imagem ou mesmo do percurso que nos permite apreendê-las como um conjunto. Tudo nos surge em simultâneo: uma imagem única que se vale por cem ou cem imagens que valem por uma; e, por isso, a obra nos surge como testemunho de uma eternidade frágil — exactamente frágil, porque as sombras parecem poder fugir (e sabemos conscientemente que isso acontecerá se o papel continuar a ser exposto a temperaturas de luz muito prolongadas e/ou demasiado altas); e eterna, porque o tempo não se escoa nelas e porque para referirmos esse instante de vida necessitaremos da eternidade.

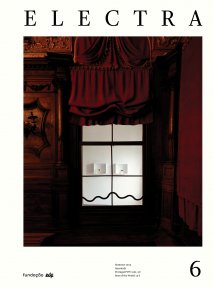




Partilhar artigo