O empreendimento de Flaubert é, para nós, um antecedente inspirador. A sua afirmação sobre a estupidez foi a chave com que abrimos, no número 2 da Electra, a porta giratória do Assunto que dedicámos ao tema. Mas é também um leitmotiv oculto em todas as edições desta revista que quer olhar com distância e escutar com proximidade este tempo a que chamamos nosso, ou contemporâneo, com uma alegria nem sempre inteiramente justificada.
É assim que cada edição da revista termina persistentemente com o Dicionário das Ideias Feitas, que, até agora, averbou as entradas «realidade», «imaginação», «partilhar», «transparência», «conceito».
Neste Dicionário, espiam-se, registam-se e interpretam-se, as palavras que pululam à nossa volta, saturando o espaço público e sitiando a esfera privada, assim fossem tão inevitáveis como o chão que cobrimos com os nossos passos ou o céu que nos cobre com as suas nuvens.
Dessas palavras, já ninguém parece ser dono, ou ter delas a consciência e a responsabilidade. Circulam, contaminam (esta também é uma das tais palavras), propõem-se, impõem-se como tudo o que quer dominar, anestesiar, imbecilizar, normalizar.
Quem leu não esquece mais aquilo que, com escândalo e surpresa, disse Roland Barthes, na sua «Lição» inaugural do Colégio de França: «A língua como performance de toda a linguagem não é nem reaccionária nem progressista; ela é pura e simplesmente fascista; porque o fascismo não consiste em impedir de dizer, mas sim obrigar a dizer.»
No Dicionário das Ideias Feitas da Electra, procura-se desnaturalizar e desnaturar a naturalidade e a natureza destas palavras glorificadas e gastas. Elas atraem como ímanes e cegam como faróis.
George Steiner afirmou: «Uma leitura bem feita começa pelo léxico. Nele se demora e a ele sempre regressa. […] O historial da palavra é a matéria primeira da sua utilização» (As Artes do Sentido, «Uma Leitura bem Feita»). Mas também preveniu: «Os clichês são verdades fatigadas. Mas eles podem ser despertados e contêm a força inquietante das intuições de que nascem. Habita-os o potencial da recorrência» (ibidem, «O Crepúsculo das Humanidades?»).
Fazer, dessas palavras, que vagueiam como espectros num teatro vazio, a etimologia, a genealogia, a ideologia, é um trabalho duro. É também, quase sempre, um trabalho de luto. Mas só assim elas nos revelam o que escondem. Apenas assim nos dizem como abusam da ingenuidade dos que as usam — todos nós, afinal — e que tudo isso desconhecem, ignoram, esquecem.
Sabemos ser esta uma operação que tem riscos e perigos. Os polícias das palavras são, não raro, tão ou mesmo mais perigosos do que os ladrões delas. Mas nem por isso é uma operação menos necessária. Se tivermos a consciência desses riscos e desses perigos, isso já é uma prevenção e um antídoto contra eles.
Cada conceito (termo averbado no número 5 da Electra por Yves Michaud) e cada palavra que o diz são escutados, olhados, pensados por alguém que está prevenido e, por isso, sabe usar a ironia astuta, a distância crítica e a perspectiva sábia para não errar o alvo, apropriando-se do que não é seu.
Nesta sexta edição, a ideia-feita-palavra-gasta do Dicionário é «desafio». Nos nossos dias, tudo passou a ser desafio, desafiante, desafiado e desafiador. Um emprego, um desemprego, um grau académico, um amor, um ódio, um treino num ginásio, uma obra na casa, um filho que nasce, um pai que morre, uma meta a superar ou um prazo a cumprir, tudo são desafios que desafiam os que adoram ser desafiados.
E mesmo quando aquilo de que falamos é, realmente, um desafio, sendo como tal tido e sentido por quem o quer vencer, a repetição até à exaustão, até à exasperação, da palavra que o diz tudo plastifica, destitui de sentido e de relevo. Ao contrário do que muitos pensam, a linguagem não é literal.
Foi o escritor Gonçalo M. Tavares que aceitou o nosso desafio (sim, sim, é isso mesmo que estamos a dizer!) para escrever sobre «desafio», no Dicionário das Ideias Feitas desta edição. Ao fazê-lo, deu ao seu pensamento sobre esta ideia-palavra duas versões que se defendem uma da outra e se defendem uma à outra.
Como a sua vasta e reconhecida obra mostra, Gonçalo M. Tavares está muito treinado e tem um faro especial para detectar, em todos os jogos de linguagem, os naipes e as cartas que valem mais e menos: os ases, reis, damas, valetes verbais.
Por um acaso, mas um daqueles acasos objectivos a que os surrealistas davam um valor maior, Gonçalo M. Tavares escreveu, já lá vão muitos anos, num jornal que não existe mais, uma crónica sobre o escritor Robert Walser. Este escritor nascido na Suíça disse: «Assusta-me a ideia de ter sucesso na vida». Mas a sua vida e a sua obra têm, paradoxalmente, a aura misteriosa daquilo que nunca se esgota nem se gasta. Há, nos livros que escreveu, coisas que tinham de ser ditas e só ele as podia dizer. É uma obra desviada de todos os clichês.
Nessa crónica tão antiga como o seu amor por este escritor, Gonçalo M. Tavares fala de um romance de Walser, escrito em Berlim, em 1909, que tem por título o nome do jovem Jakob von Gunten. Este jovem escreve o seu diário enquanto, na escola que frequenta, aprende «a paciência e a obediência, duas qualidades que pouco ou nenhum proveito prometem».
Neste livro, aquele que o seu autor preferia de entre todos os seus, o abastado irmão mais velho de Jakob é Johann e há nele uma astúcia desenganada que dá à personagem uma força que foge da fraqueza.
Quando fala do pensionato onde estuda, Jakob escreve: «Aprende-se muito pouco aqui, há falta de professores, e nós, rapazes do Instituto Benjamenta, nunca seremos ninguém, por outras palavras, nas nossas vidas futuras, seremos apenas coisas muito pequenas e subalternas.» Mas, quando Jakob convive com os amigos do irmão, comporta-se, para disfarçar, «como um homem com um rendimento anual de pelo menos vinte mil marcos». Esta classificação quase ontológica ensina-nos que os seres humanos são filhos do dinheiro que têm.
Por isso, entre os conselhos que o irmão mais velho dá fraternalmente ao irmão mais novo, há um que os resume a todos: «Tenta arranjar muito dinheiro, o mais depressa possível. Tudo está estragado, mas o dinheiro ainda não.» Vale a pena repetir este final como se ele fosse o refrão de um poema: «Tudo está estragado, mas o dinheiro ainda não.»
Este conselho, na sua eloquência irónica e prudentemente radical, podia ser uma epígrafe do Assunto que, nesta edição de Electra, dedicamos ao dinheiro, que não é um lugar-comum, embora seja o pai de muitos lugares comuns.
Deus e demónio do mundo, da vida e da alma, como o Jeová da Bíblia, o dinheiro declara: «Eu sou o que sou». Anjo que quer ser Deus — mensageiro que quer ser mensagem e meio que quer ser fim —, o dinheiro é o diabo que tudo oferece em troca de se tornar mais e maior do que é: «E mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor e disse-lhe: “Tudo isto te darei, se prostrado me adorares”».
À medida que tudo se vai tornando mercadoria, materializando-se no sentido filosófico, o dinheiro vai-se desmaterializando no sentido físico, fazendo-se memória de si-mesmo. Que é o melancólico plástico de um cartão de crédito ou de débito se não for a memória do ouro de uma cintilante e sonora moeda antiga?
Quem leu o livro A Lebre de Olhos de Âmbar: Uma herança escondida (The Hare with Amber Eyes: A Hidden Inheritance), de Edmund de Waal, sabe que a biografia dos objectos e a biografia das pessoas se encontram em duas memórias que se ajudam uma à outra na luta contra o Alzheimer do tempo e a terrível usura dos seus efeitos. Neste livro fascinante, as miniaturas de animais dos botões japoneses chamados netsukes agigantam-se e ganham a grandeza das pequenas palavras escritas com a letra minúscula de Walser.
Artista plástico que escreve, de Waal faz, da memória e das obras que são a memória dessa memória, o coração das trevas e da luz da sua criação e do seu pensamento estético e existencial.
Presente em Veneza, durante a Bienal deste ano, com uma exposição em dois núcleos — um no Ghetto e outro no Ateneo Veneto —, a que deu o nome de psalm, o portfólio com que Edmund de Waal distinguiu a Electra pede-nos que olhemos as suas imagens e que escutemos as suas palavras. Umas e outras dão ao nosso tempo uma memória futura.
O arquitecto Álvaro Siza é também um grande construtor de memórias futuras. Na sua obra, o rio do tempo dá à pedra do espaço um movimento para o horizonte que se abre e alarga à nossa vista. No diário de viagem que revelamos neste número, os desenhos que o seu traço nunca desiste de fazer criam Paisagens de papel. Siza olha o mundo como projecto. Por isso, o imagina, desenha, regista, perspectiva, transforma. Esta edição da nossa revista tem uma variedade de temas e de imagens que se dirigem para um ponto do qual o tempo se aproxima para o podermos escutar.
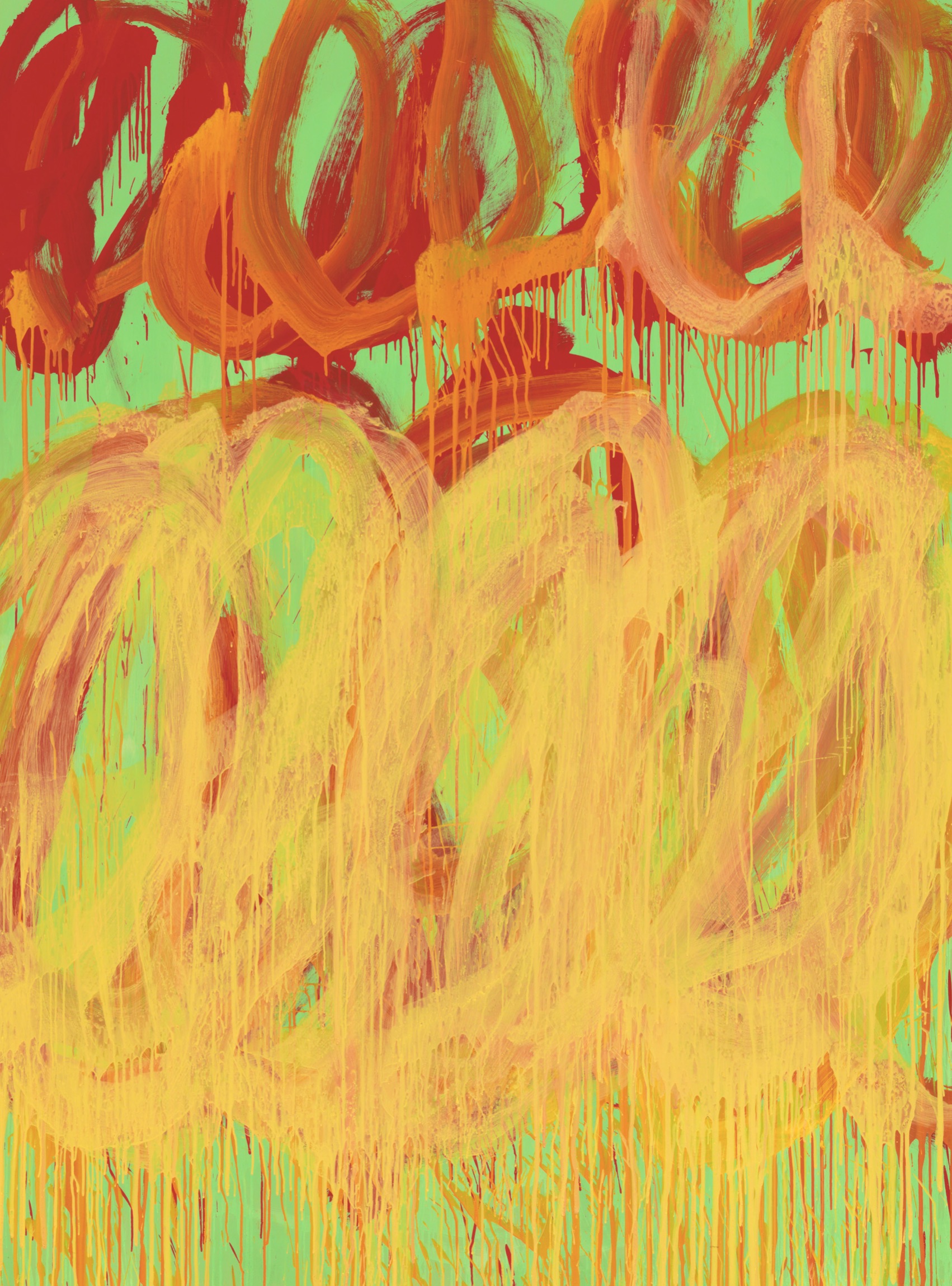

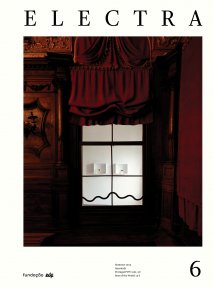




Partilhar artigo