O dossier que apresentamos neste quinto número da Electra é sobre os jovens e a juventude. O ponto de partida, muito embora os artigos aqui incluídos irradiem em diferentes direcções, é que assistimos no nosso tempo ao fim da juventude como categoria social autónoma. Assim definida, é uma invenção que durou pouco e acaba de maneira estranha: por expansão excessiva do seu território e por usurpação do seu estatuto. De facto, a juventude já não é uma transição da infância para a idade adulta, na medida em que se tornou uma condição quase perene. Perdeu grande parte das características que a vinculavam às etapas biológicas e psíquicas do homem, para se tornar um fenómeno predominantemente cultural. O mundo encheu-se de «jovens adultos». A juventude é hoje ao mesmo tempo duas coisas diferentes: por um lado, é um ideal que se materializa num universo de representações, fantasmagorias e códigos estéticos e sociais que se universalizaram e ultrapassam largamente fronteiras etárias; por outro lado, é uma condição prolongada e nada temporária, numa época em que a conquista da autonomia, através do ingresso no mundo do trabalho e da constituição de uma nova família, é cada vez mais tardia, no mundo ocidental.
A condição mais comum dos jovens está associada a uma palavra que é hoje repetida por todo o lado: precariedade. O grande linguista russo Roman Jakobson escreveu um ensaio nos anos 30, na sequência do suicídio de Maiakóvski e da purga e deportação de poetas, escritores e artistas soviéticos, intitulado A geração que dilapidou os seus poetas. O nosso tempo é aquele que dilapida os seus jovens, mantendo-os bloqueados em todas as entradas. Trata-se de um desastre — também cultural — que progride em silêncio, um factor de desequilíbrio social e de implosão das instituições (antes de mais, a instituição escolar e a universidade). A precariedade como condição inescapável e o profundo hiato entre uma geração instalada e aquela que veio num tempo em que a noção de futuro, motor de toda a acção política e social, já tinha perdido a sua força são a resposta plausível a uma pergunta que muitas vezes é feita: Porque é que não emerge uma nova identidade colectiva em torno de reivindicações juvenis, algo semelhante a um movimento social? Por outras palavras: Porque é que a juventude não dá lugar a um sujeito histórico, quando parecem criadas as condições para isso?
Extinta a enorme significação política da juventude e a força «espiritual» — intelectual — que a fez detentora, em vários momentos do século XX, de uma força messiânica (por exemplo, no Maio de 68), a sua potência ficou confinada às iluminações profanas da imagem. É hoje bem notório que a figura do corpo jovem monopolizou o nosso imaginário. Ele ocupa quase exclusivamente a cena pública, no cinema, na televisão, na publicidade, na moda. Mal conseguimos pensar a beleza, a saúde, a vitalidade, a sexualidade — e todas as suas declinações — sem a referência ao corpo jovem, isto é, o corpo como «deve ser», biopoliticamente correcto. Isto inaugura uma outra maneira de caracterizar a juventude: ela já não se define por um ideal, por uma concepção do mundo, como foi o caso da juventude do pós-guerra, até ao Maio de 68, mas por uma imagem. O ideal é algo a que se aspira e constitui uma política, determina uma acção e funda um estilo. A imagem, por sua vez, leva a um mimetismo passivo, consubstancial ao fenómeno de estetização da sociedade e às formas de sentir que lhe correspondem.

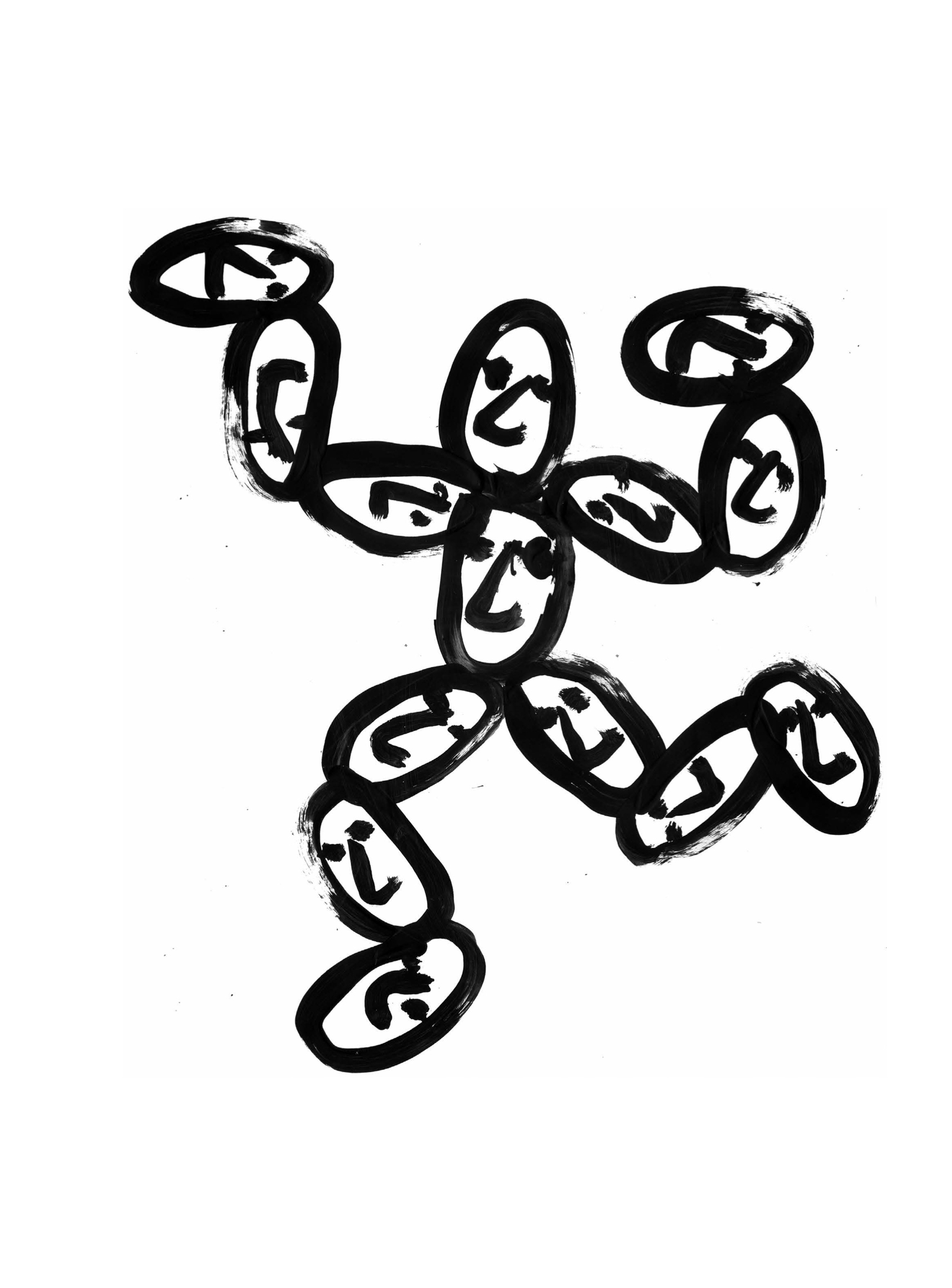


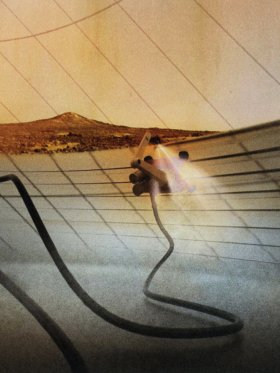


Partilhar artigo