Eyal Weizman é um arquitecto israelo-britânico nascido em Haifa. É o fundador e director da Forensic Architecture e é professor de Culturas Espaciais e Visuais no Instituto Goldsmiths, da Universidade de Londres, onde fundou o Centre for Research Architecture. Integra o conselho do Tribunal Penal Internacional e recebeu a Ordem do Império Britânico por serviços prestados à arquitectura. Weizman alcançou a notoriedade pública quando comissariou, com Rafi Segal, uma mostra de arquitectura israelita no Congresso da União Internacional dos Arquitectos em Berlim, em 2012, na qual decidiram exibir os colonatos. A Associação Israelita dos Arquitectos Unidos retirou o seu apoio, cancelou a exposição e destruiu os catálogos. Este gesto e a polémica que gerou projectaram-no internacionalmente. Desde 2013, tem liderado uma nova abordagem à arquitectura, perscrutando o ambiente construído em busca de pistas para os crimes que aí foram cometidos, em livros como Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation (2007), The Least of All Possible Evils (2011) ou, com Fazal Sheikh, The Conflict Shoreline (2015). Quando Weizman olha para uma paisagem urbana como a Cisjordânia, no caso do filme da Al Jazeera The Architecture of Violence (2014), vê um campo de batalha. «As armas e munições são elementos muito simples: são árvores, são terraços, são casas.» Por isso, em 2010, fundou a Forensic Architecture, uma agência que tem desenvolvido métodos pioneiros de investigação espacial em face de violações perpetradas por Estados e por empresas, com uma equipa interdisciplinar de arquitectos, cineastas, jornalistas, programadores, arqueólogos, advogados e cientistas. Trabalham em conjunto com ou em nome de equipas jurídicas, organizações de direitos humanos, grupos de justiça ambiental ou comunidades afectadas pela violência de Estado, envolvendo-se em temas que vão desde a crise dos migrantes no Mediterrâneo aos campos secretos de tortura nos Camarões, dos ataques químicos a civis na Síria a ataques de drone da CIA no Paquistão ou ao desaparecimento forçado de alunos no México. Recorrem a um vasto leque de métodos de investigação — desde as ferra- mentas mais sofisticadas de aprendizagem automática, visão computorizada, Inteligência Artificial ou detecção remota, à regressão cartográfica ou a estudos de nuvens [cloud studies] por pintores e historiadores da arte — para expor atrocidades, crimes ambientais, problemas de património cultural ou homicídios individuais, apresentando provas decisivas perante tribunais nacionais e internacionais, além de fóruns de cidadania e processos de direitos humanos, e suscitando inquéritos militares, parlamentares e na ONU. Estas investigações traduzem-se ainda em instalações multimédia e representações audiovisuais amplamente requisitadas pelos mais variados fóruns: de salas de audiências e parlamentos até museus, plataformas online e meios de comunicação. A Forensic Architecture teve relevantes exposições de arte na Documenta 14, na Bienal de Veneza, na Bienal de Whitney, no Museu de Arte Contemporânea de Barcelona (MACBA) ou no Instituto de Arte Contemporânea (ICA) em Londres, e foi ainda nomeada para o Prémio Turner. Além de inúmeras distinções nos campos dos direitos humanos e tecnologia, o colectivo ganhou também um Emmy e um Prémio Peabody. À medida que a arquitectura vai conquistando os prémios mais prestigiados do jornalismo de hoje, o ambiente construído é cada vez mais chamado ao banco dos réus. Os Exércitos israelitas, americanos e britânicos têm instituído academias de arquitectura para os soldados; think tanks e universidades por todo o mundo estão a abrir unidades de investigação digital para recolher, arquivar e analisar dados de conflitos geopolíticos. Nesta conversa por videochamada, Eyal Weizman analisa uma nova era da investigação sobre os direitos humanos e crimes de guerra, na qual a inteligência arquitectónica tem assumido um papel cada vez maior.
Eyal Weizman é fundador e director da Forensic Architecture, uma agência que usa a arquitectura como prova material, levando a cabo investigações independentes ou em parceria com procuradores de Justiça internacionais ou grupos de defesa ambiental e de direitos humanos, com o intuito de identificar, reconstruir e denunciar a violência. Em conversa com Afonso Dias Ramos, Eyal Weizman percorre uma década de trabalho, que cruza a arte e a análise forense, jornalismo e Direito, com pesquisas avançadas sobre o espaço e os media em situações de violência estatal e corporativa pelo mundo todo.

© Paul Stuart
AFONSO DIAS RAMOS Fale-nos um pouco da sua formação. O que moldou a sua visão da arquitectura como gesto político? O que o levou a focar-se na interacção da violência com o ambiente construído?
EYAL WEIZMAN Tinha dois interesses rivais quando era jovem. Um foi moldado por um certo gosto em teoria, particularmente teoria política, através dos grupos de leitura a que pertencia em Haifa, organizados pelo Partido Comunista de Israel, que tinha lá uma sede. Esse grupo de intelectuais palestinianos, israelitas e judeus estava a tentar desenvolver um entendimento comum das realidades materiais do colonialismo de povoamento. Haifa é um lugar interessante neste sentido, uma vez que a cidade ainda mantém uma população palestiniana. Enquanto a maior parte das outras grandes cidades na Palestina foi alvo de uma limpeza étnica em 1948, em Haifa, alguma população sobreviveu na cultura urbana daquilo que viria a ser o Estado de Israel, e não nas culturas rurais que costumam ser associadas, erradamente, às expulsões da Nakba [o êxodo palestino de 1948]. O outro interesse que eu tinha era espacial, e também foi moldado por Haifa. Ao crescer ali, observava tanto a geografia como a topografia operando enquanto mecanismos de separação, como componentes do apartheid espacial de Israel. Os bairros palestinianos estavam claramente circunscritos. Do ponto de vista legal eram porosos, mas socialmente não o eram. Os bairros judeus das colinas de Haifa, onde cresci, numa família de classe média no Monte Carmelo, acumulavam-se sobre as comunidades palestinianas dos vales.
"Um espaço nunca é estático. A força e a forma relacionam-se através de actos de violência."
Sempre quis ser aquitecto, mas também queria dedicar-me à teoria política. A arquitectura atraía-me enquanto prática estética. Na verdade, ainda guardo cadernos de esquiços. Contudo, estava à procura de maneiras de ligar estas duas coisas. Quando era estudante de Arquitectura em Londres numa escola algo experimental, a Architectural Association, apercebi-me de que aquilo que vincula estes dois campos é o estudo da violência de incidentes transformadores, quando o poder político e o espaço edificado interagem, por vezes com consequências devastadoras. O estudo da destruição e o estudo da construção passam assim a relacionar-se, como movimentos complementares na modelação política de um espaço. Eu entendia a política como uma das formas constitutivas mais importantes na reorganização do espaço. A teoria política e a arquitectura não estavam dissociadas, mas eram campos mutuamente constitutivos. A arquitectura é a força política a abrandar até chegar a uma forma. Esta ideia é muito importante para mim. Trata-se de uma leitura do espaço como evento. Um espaço nunca é estático. A força e a forma relacionam-se através de actos de violência. A violência que experienciei no contexto do colonialismo do povoamento israelita foi a destruição dos habitats palestinianos em 1948, a destruição dos campos de refugiados e das cidades em Gaza e na Cisjordânia que ainda continua, o bombardeamento do Líbano, e por aí fora. Conseguia ver como a política se manifestava verdadeiramente em actos de destruição, mas também em actos de construção, com estradas e colonatos numa escala territorial que operava como meio de dominação, separação e extracção da vida palestiniana daquele espaço. Concebia a destruição e a construção como intimamente relacionadas, como o modo através do qual a força age sobre a forma. Ao olhar para a forma, conseguimos ler a força. Veja-se qualquer realidade física, e não apenas em contexto de guerra ou da Palestina. Olhemos para um projecto arquitectónico. Onde estão as paredes? Onde estão as portas? Qual é o seu tamanho? Onde estão os limites? Tudo isto resulta de conflito. Por vezes, isto articula-se de um modo cordial, outras vezes através de uma erupção violenta. O conflito molda o espaço através de um jogo de forças. Trata-se de uma concepção da arquitectura enquanto plástico político, como um medium elástico. A sua disposição da forma material é um diagrama das forças contraditórias num dado momento. Não faz qualquer sentido criar grandes separações ontológicas entre construção e destruição, ou entre a cidade e o campo. A cidade molda o campo ao cortá-lo ao meio. Mais uma vez, são ambos mutuamente constitutivos.
[...]
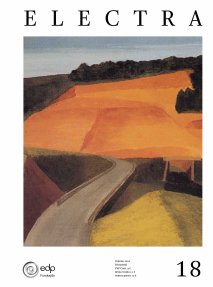




Partilhar artigo