Ao escrever, no fim da sua vida relativamente breve, A Cidade e as Serras, Eça de Queiroz, sem que verdadeiramente disso tivesse consciência exacta ou premonição adquirida, fez sua a inscrição representada numa melancólica pintura de Nicolas Poussin, que fala da morte e dos mortos, presentes mesmo num país ideal e edénico. Na obra memorável do pintor francês, aparece a inscrição «Et in Arcadia ego» [Eu também estive na Arcádia], que vem das Bucólicas, de Virgílio, atravessa o Renascimento e as ideias adoptadas pela corte de Lourenço de Médici, inspirando também uma conhecida pintura de Guercino.
Esta tradição filosófica, gnóstica, poética e artística prossegue o caminho, ora visível ora oculto, e passa o seu testemunho a Rousseau e aos românticos alemães. Com esta obra fatidicamente final e tão admiravelmente surpreendente, é como se Eça fosse um daqueles pastores que olham e tentam decifrar, espantados e curiosos, a mensagem «Et in Arcadia ego», ao mesmo tempo feliz e fúnebre, epicurista e estóica, sibilina e sábia, do quadro de Poussin.
Ligando a memória de um passado intemporal à consciência aguda do tempo de mudanças que foi o seu, Eça de Queiroz deu à Cidade e as Serras uma actualidade futura que a torna uma obra certa, inspiradora e indispensável para introduzir e apresentar, nesta edição 18 de Electra, o dossier sobre «Cidade, Campo». Nele, nas suas palavras e imagens, passam os temas e os motivos, as avaliações e as meditações com que, num romance escrito em português, no final do século XIX, o seu autor soube observar, pressentir e interrogar o mundo como lugar de Natureza e de Cultura, de Civilização e de Barbárie, onde a vida se faz e se desfaz, se afirma ou se nega.
Se há temas permanentes na cultura humana, este é um deles e dos mais insistentes. Desde as várias antiguidades, no Ocidente ou no Oriente, no Norte ou no Sul, que o tema da oposição do campo e da cidade assoma em diversas formas simbólicas, criações filosóficas e expressões artísticas. Na Europa, uma das mais duradoras demonstrações desse confronto é-nos revelada pela fábula de Jean de La Fontaine do rato da cidade e o rato do campo (1668), cuja primeira versão é de Esopo (século vii a.C.). Alguns séculos depois do fabulista grego a ter imaginado, em Roma, o poeta Horácio fez desta história uma glosa. Com diferenças narrativas e estilísticas, consoante o autor de cada versão, o motivo fundador e fundamental permanece inalterável: a disputa dialéctica sobre as vantagens e desvantagens da cidade face ao campo e os benefícios e malefícios do campo face à cidade.
Foi acerca desta relação entre comunidades humanas determinadas pela Natureza, pelo clima, pela geografia, pela geologia, pela ecologia, pela história, pela cultura, pela antropologia, pela economia, pela demografia, pela sociologia, pelo direito, pela política, pela religião, que o célebre ensaísta e crítico galês Raymond Williams escreveu uma obra que se tornou clássica: O Campo e a Cidade na História e na Literatura.
Considerando, com profundo e minucioso conhecimento, o «caso inglês», mas mostrando aquilo que nele existe de heuristicamente indiciador, hermenêuticamente significativo, semiologicamente sintomático, cientificamente representativo e epistemologicamente universal, Williams estuda os fenómenos económicos, sociais e culturais que aconteceram ao longo de séculos na Grã Bretanha, entre os quais a precoce e pioneira Revolução Industrial teve uma importância crucial (por exemplo: a mudança do campesinato tradicional em capitalismo agrário desenvolvido). Também a fase expansionista do Império Britânico, com as suas colónias, teve consequências fundamentais.
Em ligação com estes fenómenos históricos, o autor analisa as mudanças que ocorreram no campo e na cidade, examinando, com uma inteligência editorialmetódica, as transformações, lentas ou rápidas, superficiais ou profundas, ligeiras ou radicais, efémeras ou permanentes, previsíveis ou imprevistas, que se foram verificando na relação entre estes dois mundos — o rural e o urbano —, configurando a Natureza e a cultura, a vida e a sociedade, as classes e os géneros, o trabalho e o lazer, os corpos e os ecossistemas, a sensibilidade e o pensamento, a informação e a visão do mundo e dos seres humanos. Esses dois mundos e a relação entre eles definiram, determinaram e diferenciaram as oportunidades e as escolhas, as fixações e o êxodos, os enraizamentos e as mobilidades, as inclusões e as exclusões, as assimilações e as transgressões.
Ao empreender este estudo, de um acertado âmbito e de um ambicioso alcance, Raymond Williams analisa as respostas que as criações literárias, as concepções filosóficas e o pensamento crítico e social foram dando às alterações e rupturas, mediações e metamorfoses, reformas e revoluções que se sucederam no espaço e no tempo. O ensaio do autor galês dá-nos ainda contribuições importantes para a história do próprio conceito de «desenvolvimento».
Investigando, com intencional incidência, o que foi acontecendo na história e na cultura a partir dos séculos XVI e XVII (época de ouro do género pastoral nas literaturas europeias, numa atitude que procura um refúgio no mundo natural, idealizado, como alívio, contraponto e protecção contra conflitos e agressões da sociedade urbana ou da corte, e que colhe inspiração em Hesíodo, Virgílio e Ovídio), este crítico e sociólogo da cultura detém-se nas obras maiores do romantismo inglês, como as de William Blake e Wordsworth. Considerando depois a nova literatura urbana dos séculos XIX e XX, prossegue a análise da passagem, na época vitoriana, para a modernidade social, com Dickens, e para a revolução literária de Joyce, chegando até à interpretação da ficção científica.
Do século XIX para cá, citámos Camilo Castelo Branco, Júlio Dinis, Eça de Queiroz, Charles Dickens, Stendhal, Balzac, Victor Hugo, Flaubert, Zola, Proust, Joyce. Mas podíamos juntar, entre outros, os escritores americanos e os russos. Assim, Tolstoi começa o seu romance Ressurreição, escrevendo com um totalizador panteísmo cósmico e uma aguda e pioneira consciência ecológica:




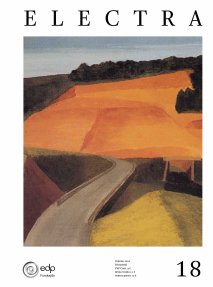




Partilhar artigo