Esta peça foi desenhada a partir de quatro artistas — Ghoya, Mynda Guevara, Né Jah, Primero G —, partes fundamentais do rap crioulo, para contar algumas das várias histórias da Grande Lisboa e da sua Margem Sul. Partiu-se de cada um deles, dos bairros onde de alguma forma cresceram, e dos interlocutores por ela e eles sugeridos, para criar uma cartografia do que tem sido o seu quotidiano local ao longo do tempo depois de Abril, e que retrata a realidade indivisível da música que fazem. Foram estes quatro artistas que participaram num concerto e conferência a 5 de Julho de 2020, dia em que se celebrou a independência de Cabo Verde, numa declinação do programa Terra Irada, que desenvolvi para o MAAT nesse ano invulgar. Ao receber de muito bom grado o convite da Electra para escrever uma peça, foi instantâneo querer continuar a abordar este assunto neste veículo.
O rap crioulo nacional, que se forma na década de 90, é uma afirmação programática e natural da língua cabo-verdiana dentro do panorama do rap e do hip hop em Portugal. É uma história bem longa, e que finalmente começou a ter, em anos muito recentes, outro tipo de aceitação e difusão. Por questões pluralistas, micro-geracionais e etárias, estão aqui quatro figuras que, para cada época em que surgiram, foram afirmando novas maneiras de ser aqui, usando língua, paridade e reivindicação em iguais medidas. Qualquer um deles mantém a sua total pertinência artística e cívica, para lá de uma feroz independência. Trata-se da música provavelmente mais ouvida hoje em dia no nosso país, mesmo que quase não passe nas rádios, e mesmo que os seus discos não estejam sequer à venda nos sítios que ainda vendem discos físicos. Por definição, será a mais relevante representação da música da actual classe trabalhadora jovem portuguesa, por todo o país, bem como das mais estimadas e escutadas por adolescentes de norte a sul.
O texto está criado, grosso modo, para que fique o registo corrido do processo de entrevistas. Por esta técnica, desaparecem muitas conversas que desenharam as entrevistas, e ficam depoimentos editados (dactilografados), sobre os assuntos fundamentais que surgiram, à volta da matriz da música em si, e das zonas que a influenciaram.
A peça está segmentada pelos bairros onde cada artista cresceu ou, como no caso do Ghoya, pelo bairro de entre os vários bairros onde ele passou e passa tempo e que ele optou por escolheu para o efeito. O Né Jah, há anos emigrado em Paris, não estava em Portugal à época da realização das entrevistas, levando a que o Diogo Simões e eu estivéssemos à vontade para falar presencialmente com o seu irmão mais novo, Bebe, por sua indicação, na casa onde ambos, com outro irmão, cresceram. No caso do Primero G, a Arrentela é o seu segundo poiso de longa duração, depois de muita vida passada na desfeita Pedreira dos Húngaros. Dos quatro, no fundo, só a Mynda cresceu e permanece na Cova da Moura.
Escolhi desaparecer tanto quanto possível das entrevistas transcritas, só surgindo quando considerei ser necessário assegurar o ritmo e a fluidez de leitura da peça.
Encontrei extremas e antigas dificuldades em truncar o trabalho de entrevistas e de citação. É sufocante, escolhendo bem a palavra, deixar de lado uma data de raciocínios notáveis e de construção realista. Decidir entre estes pedaços iniciou e acabou por ser a arquitectura da peça. Concluo simplesmente que, para este oráculo de assuntos, não há páginas que cheguem.



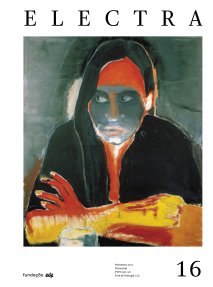




Partilhar artigo