O Porto é uma cidade de megalómanos. Na nossa extravagante fantasia, o Porto é infinitamente mais vasto do que a dimensão real da cidade. É verdade que as ruas são estreitas, as casas pequenas, de divisões acanhadas, escuras, esconsas. Quase não há praças, os palácios contam-se pelos dedos, os jardins são minúsculos. Pode-se percorrer a cidade a pé, de uma ponta à outra, em linha recta ou aos ziguezagues, numa manhã. Mas aquilo que os olhos observam não é o que a mente vê. Crescemos a imaginar que o mundo teve origem num ponto misterioso, algures entre a Sé, a Cordoaria e a Praça. E quando o mundo acabar, depois de todos os séculos, o Porto será a última cidade a desaparecer.
Durante muito tempo, tudo o que existia para lá do horizonte era a Foz. Os navios entravam e saíam da barra do Douro, como se obedecessem a uma lei natural. Tal como as vagas se sucedem nas praias, junto ao Castelo do Queijo, e o rio entra no mar. A ideia de uma cidade aberta, próspera, cosmopolita, em contínuo crescimento passou de pais para filhos durante gerações, como uma litania, um romance popular. Uma verdade tão sólida e incontestável como um mito, fechada à chave por dentro e protegida pelo que resta da velha muralha fernandina. Quando, há pouco mais de quinze anos, aviões de todas as cores, tamanhos e bandeiras começaram a aterrar no aeroporto, até aí praticamente deserto, muitos portuenses puderam finalmente sair e correr o ignoto e vasto mundo. A «liberalização do espaço aéreo» e os bilhetes baratos permitiram-nos subir a bordo, ganhar altura e viajar para outras cidades que conhecíamos apenas de forma indirecta, através dos livros, dos jornais, do cinema ou da televisão. A nossa fé, porém, permaneceu intacta. Para nós, qualquer viagem serve menos para descobrir outras paisagens do que para reconhecer nelas os inumeráveis rastros da grandeza da nossa cidade. Viajamos para ver o Porto que há em Paris, Sidney, Moscovo, Tombuctu.
O problema portuense existe desde sempre. Mas há um momento em que tudo desaba. O momento a partir do qual o tempo da cidade passa a fixar-se por uma espécie de relógio desafinado. A 31 de Janeiro de 1891 dá-se, nas nossas ruas, a primeira tentativa de implantação da República. A revolta, sufocada em poucas horas pela Guarda Municipal, marca o início do longo, lento e irremediável desacerto do Porto. À medida que a influência política da cidade se dissipa, cresce o nosso transtorno. Ao longo do século XX, o Porto perde a sua indústria e as grandes instituições financeiras transferem-se definitivamente para a capital. Há provas e testemunhos irrefutáveis destes acontecimentos em todos os livros de história, mas a história que contamos a nós mesmos é diferente. O nosso declínio é manifestamente exagerado. A nossa condição de segunda cidade portuguesa é uma ficção trágica que nos é imposta a partir de fora. A rua a que se deu o nome de 31 de Janeiro, para assinalar a revolta falhada, chamava-se antes Rua de Santo António, como é ainda conhecida pelos mais velhos entre os velhos. É uma rua fortemente inclinada, que se estende de São Bento à Batalha. É das mais difíceis e penosas de subir a pé. E ao descer, é preciso algum cuidado para não tropeçar e cair.







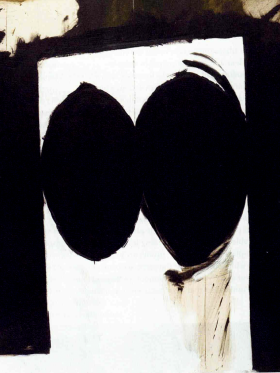

Partilhar artigo