Quando Pedro Costa fala do seu trabalho, as suas reflexões têm a eloquência e a força dos seus filmes. Reivindicando o luxo do tempo longo e da escassez de meios, criou obras cinematográficas que têm a capacidade de elevar um bairro da periferia de Lisboa a uma condição universal e de dar expressão épica ou trágica a pessoas (não propriamente personagens) que trazem consigo palavras, experiências e memórias que valem como os mais elaborados guiões. Este cinema tão consubstancial à vida e aos lugares da gente que nele emerge com uma grandiosidade trágica ou épica (de onde se destacam seres singulares, criadores de um mundo, que se chamam Vanda, Ventura, Vitalina) tornou-se objecto de admiração e até de culto em muitas latitudes internacionais. Há uma imagem externa do «cinema português» contemporâneo que deve muito aos filmes de Pedro Costa, ao prestígio que ele foi acumulando à medida que os seus filmes foram sendo recebidos com admiração e entusiasmo pelas diversas instâncias internacionais de consagração. Trata-se evidentemente de um cinema «minoritário», que fala um idioma difícil de ser entendido pelos consumidores de blockbusters. Nele, podemos ver uma arte que, diz o autor nesta entrevista, está em vias de desaparecer.
Pedro Costa é um «autor», num sentido muito mais radical do que aquele a que a noção de «cinema de autor» alude. Os seus filmes são feitos de uma matéria que transborda de realidade e de pessoas que emergem como figuras exemplares que atravessam o nosso tempo. O prestígio e a reputação internacionais deste cineasta que tem acumulado prémios internacionais, embora fazendo um percurso muito singular e solitário que não admite etiquetas colectivas, muito têm contribuído para uma irradiação do «cinema português». Esta entrevista é uma incursão no seu trabalho e em tudo o que o envolve.
ANTÓNIO GUERREIRO Quanto mais avançamos no teu percurso de cineasta, mais temos a sensação de que vens de um lugar que não é o lugar do cinema ou, pelo menos, das suas convenções actualmente dominantes mais reconhecíveis, e fazes apelo à pintura e à literatura. Como foi a tua entrada no cinema?
PEDRO COSTA É estranha essa observação. Sinto-me cada vez mais perto da pré-história do cinema. Para mim, o cinema foi sempre importante, um centro à volta do qual tudo girava. Não quero dizer que tenha sido um grande cinéfilo, mas ainda hoje em dia preciso do cinema para ver e ouvir melhor. Gosto muito de ver e de ouvir, de filmar. Gosto do fazer. E acho que só tive a experiência das outras artes, só li, só ouvi e só pude experimentar melhor o chamado mundo sensível por causa do cinema. Foi o cinema que me fez ler melhor. Enfim, a música talvez seja uma excepção, mas a música é uma excepção tão grande, não é? Vive-se na música desde que se nasce… E não esqueço a passagem pela Escola de Cinema, e o encontro com pessoas como o João Bénard da Costa, o João Miguel Fernandes Jorge e, sobretudo, o António Reis. A escola ainda não estava institucionalizada, os professores estavam próximos, foi um momento de camaradagem e de grande energia. Foram anos de insolência, de certezas absolutas. Sei, por exemplo, que a descoberta do Trás-os-Montes, do António Reis e da Margarida Cordeiro, me reconciliou com o país que eu abominava. Tive muita sorte que os meus anos de aprendizagem coincidissem com os anos da Revolução, ou melhor dizendo, com os anos do fracasso da revolução. Foi nesse momento que comecei a juntar as peças todas da minha vida. Foi nesses Verões quentes de 74 a 80 que comecei a ver filmes a sério, a ouvir música, a ler poesia, a ver pintura, a pensar e a viver a política, nas ruas, todos os dias. E nessa agitação todas as artes se respondiam e misturavam. Foi então que fixei os meus interesses, que aliás não mudaram quase nada até aos dias de hoje. O cinema clássico americano, os grandes ciclos pessoa Mizoguchi, Ozu, Bresson, Ford, Hawks que o João Bénard nos mostrava na Gulbenkian, Straub e Huillet e Jean-Luc Godard. Mas o cinema foi sempre para mim uma actividade solitária, para o melhor e para o pior; a música era o colectivo, estava com os amigos, tanto no quarto como na rua, e nessa altura militantemente na rua. E muito cedo tive a certeza de estar de um lado e não do outro, na rua e no cinema. Foi um momento de entusiasmo, de admiração e de algum delírio…

Walker Evans, Child’s Grave [Túmulo de criança], Hale County, Alabama, 1936
© Fotografia: Scala, Florença / The Museum of Modern Art, Nova Iorque
"Agora, o cinema ou está nas paredes dos museus e das galerias ou é um gadget juvenil de centenas de milhões de dólares. O cinema que entrou nos museus não tenho dúvida de que acabará por se devorar a si mesmo, entre a vacuidade e os artifícios."
AG A minha pergunta tinha implícita a ideia de que os teus filmes vão progressivamente sendo atravessados por outros media, por exemplo a pintura, em busca de uma pureza.
PC Não sei se «pureza» é a palavra certa. O cinema é o meu centro, mas não é um absoluto. O cinema é o trabalho. Só sei que o trabalho produz mais trabalho, não produz cinema ou arte. Ou seja, o cinema não é um fim em si, um filme tem de dar continuidade a alguma coisa. Fazer um filme só por fazer não devia chegar, não é? Eu não me daria a tanto trabalho… Pelo menos, é nessa direcção que tento prosseguir, e é o que tento passar às pessoas que trabalham comigo. No nosso caso, pode passar pelo tempo consagrado ao conhecimento, não das personagens, mas das pessoas que vamos filmar. E a vivência ou o estudo dos locais onde vamos filmar. Convém estar por dentro da economia e das rotinas do bairro se pretendemos fazer uma ou duas ou três cenas decentes. Podemos e devemos perder tempo com o inferno burocrático e a fragilidade da saúde dos nossos companheiros actores. Para a lógica do cinema de produção convencional, preocupado com a rentabilidade e a cantiga do «tempo é dinheiro», tudo isto é tempo perdido. Mas na verdade é tempo que serve o filme. Enfim, creio que passamos tanto ou mais tempo a trabalhar sobre os problemas da chamada produção do que sobre os problemas ditos artísticos. Há uma procura que é comum a toda a equipa: fazer com pouco, encontrar maneiras de concentrar e reduzir. Como é que podemos recriar tantas memórias visuais, com luz e som, sem desperdício e sem inflacionar? É fazer com os restos, com o que nos deixam nos contentores, é fazer parte de um movimento comum. Não estamos nós a trabalhar com restos de memórias, de casas, de pessoas? Tenho a sensação de que, cada vez mais, temos de dar passos atrás. Para fazer filmes preciso de centrar-me. E centrar-me é, ao contrário do que disseste, concentrar-me no cinema. Mas, repito, o cinema enquanto possibilidade de inquérito sobre uma determinada situação ou realidade. Só que, lá está, a estética vem sempre primeiro e eu sou sobretudo acusado de ser muito referencial e reverencial em relação à «arte do cinema».
[...]

Vitalina Varela, 2019
© Pedro Costa




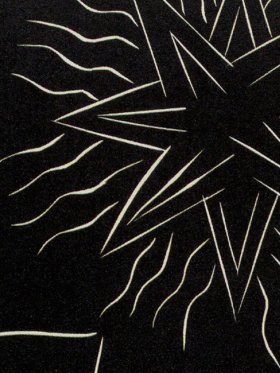
Partilhar artigo