Jo Ractliffe, nascida em 1961 na Cidade do Cabo, é uma das artistas visuais mais importantes da África do Sul. Iniciou o seu trabalho no início dos anos 80, num contexto de protestos contra o regime do apartheid. As suas fotografias exploram, desde então, a relação da paisagem com o imaginário histórico e a violência política. Em 2007, foi esse interesse que a levou a Angola para uma série de projectos sobre o rescaldo da guerra nesse país. As incursões resultaram em três reconhecidos livros de fotografia contemporânea — Terreno Ocupado (2008), As Terras do Fim do Mundo (2010) e The Borderlands (2015) — que têm sido objecto de exposição nas mais prestigiadas instituições culturais, no MoMA (2011) e Met (2015) em Nova Iorque, na Tate Modern (2015) em Londres ou no Rijksmuseum (2017) em Amesterdão. Aclamada pelo curador Okwui Enwezor como «uma das melhores e mais subestimadas fotógrafas da sua geração», autora de uma obra em Angola que o seu colega David Goldblatt destacou como «uma importante mas subestimada contribuição para a fotografia e a arte», neste ano em que Jo Ractliffe assinala trinta e cinco anos de carreira, a Electra revela material inédito das suas viagens por Angola: uma série de fotografias feitas entre o porto de Luanda, o bairro da Boavista e o Roque Santeiro, aquele que foi durante décadas o maior mercado a céu aberto de África, um interminável bazar e o prodigioso palco de resistência, tenacidade e vitalidade que havia de desaparecer sem rasto no decurso da ascensão meteórica de Angola no início deste século. Foi «essa paisagem de habitação que se tornou o meu interesse principal», esclarece a fotógrafa, «como as pessoas fazem o seu caminho na vastidão caótica e selvagem da cidade, cheia da energia e iniciativa do pós-guerra e a promessa contraditória de um novo futuro».
Revelamos, nesta secção, obras inéditas de uma das mais reconhecidas fotógrafas da actualidade: Jo Ractliffe. Esta artista sul-africana, cujos trinta e cinco anos de carreira se assinalam agora, tem estado presente nas mais relevantes instituições artísticas, como o MoMA ou o Met (Nova Iorque), a Tate Modern (Londres) ou o Rijksmuseum (Amesterdão). No momento em que está em exibição a sua mais recente retrospectiva (Drives) no conceituado Art Institute of Chicago, damos a conhecer algumas das fotografias que Jo Ractliffe fez em Angola, numa geografia que vai do porto de Luanda ao bairro da Boavista e ao mercado Roque Santeiro. O que então a atraiu foi ver «como as pessoas fazem o seu caminho na vastidão caótica e selvagem da cidade, cheia da energia e iniciativa do pós-guerra e a promessa contraditória de um novo futuro». Num ensaio escrito para esta edição, Afonso Dias Ramos apresenta esta importante artista contemporânea e o trabalho que destinou a Electra.
No ponto imóvel do mundo que gira. Nem só carne nem sem carne. Nem vem de nem vai para; no ponto imóvel, aí está a dança, Mas sem pausa nem movimento. E não se chame fixidez, Onde o passado e futuro se enlaçam. Nem ida nem vinda, Nem ascensão nem queda. Sem o ponto, o ponto imóvel, Não haveria dança, e tudo é tão-somente a dança. Só posso dizer que estivemos ali; mas não sei onde. E não sei quanto durou, isso seria situá-lo no tempo.
T. S. Eliot, «Burnt Norton», Four Quartets, 1936
Der Spiegel: Professor Adorno, ainda há duas semanas, o mundo parecia em ordem…
Theodor Adorno: A mim, não.
Der Spiegel, 05.03.1969

Carro abandonado, Boavista, 2007
© Jo Ractliffe

Do bairro da Boavista até ao mercado do Roque Santeiro, 2007
© Jo Ractliffe

Barbearia, mercado do Roque Santeiro, 2007
© Jo Ractliffe

Barracas, mercado do Roque Santeiro, 2007
© Jo Ractliffe
Tem passado despercebido como o silêncio e o vazio que desceu sobre as cidades nos últimos meses da pandemia surgia prefigurado no género de fotografia com maior afirmação neste século — as imagens de paisagens urbanas evacuadas, onde as condições normais de vida pareciam suspensas, o tempo paralisado e a presença humana expulsa, assinalando os eventos importantes através da sua sobrevivência em estruturas materiais, como restos e vestígios. Se a retirada e deserção anunciada nessas fotografias se tornaram o novo normal em tempos de confinamento, a condição mutante de tais cidades devolutas denunciava então um imaginário contemporâneo assombrado pela ameaça dupla da recessão e extinção, um presente incapaz de se pensar ou exprimir senão através da linguagem da crise e paradoxo, e uma violência de natureza mais dissimulada, ora viral, ora virtual, ora psíquica. Tal género experimental nascera essencialmente do protesto contra o estado moribundo da reportagem jornalística, recuando face à transmissão electrónica e instantânea das notícias para meditar sobre emergências sem a tirania da resposta imediata, e como fruto de crescentes pressões intelectuais que desviaram a fotografia do instante decisivo e da destruição espectacular em tempo real para uma reflexão mais profunda sobre violência nas suas manifestações diferidas, intermitentes ou fugidias, sem interpretação simples.
Sob forma de paisagens desocupadas e ruas despovoadas, as fotografias impunham ao mundo um interlúdio, o abrandamento do olhar para estudar o que comunicam os lugares sem pessoas, transfigurando cidades familiares em cenários estranhos que exigiam ser reanimados no teatro da imaginação, interpretação e memória. Em regra geral, este tipo de fotografia que saturava galerias de arte operava de modo retrospectivo, revisitando cenários de catástrofes políticas e desastres naturais que sacudiram a sociedade, mas enquanto registos visuais do que resta depois de o tumulto passar. O que se pretendia desse imaginário fantasmal que se soltava da casca das coisas era, no fundo, a própria aparição da história, «essa mistura indecente de banalidade e apocalipse», como um dia a definiu Emil Cioran. O anacronismo da mistura indecente não só remetia para os primórdios da fotografia quando, por limitações tecnológicas, os modelos privilegiados eram a arquitectura e o cadáver, dado que tudo o que se movesse passava à invisibilidade, mas também para um contexto actual no qual os ecrãs se enchem de paisagens vazias que já não são um pano de fundo mas protagonistas, face às quais a fotografia se insinua agora como testemunha muda, mais relevante pela inexplicabilidade que regista do que pela aparência que revela. Se indicia uma evacuação violenta ou ruptura radical, troca o grito pelo sussurro. A coincidência da inversão já não indica a melancolia do regresso patológico ao passado, mas dá o contorno de um presente desconjuntado no qual, como nos discursos sobre o fim do tempo, o instante sumiu e o tempo suspendeu-se dentro do tempo.
Se, sob a pandemia, o tempo deixou de ser pontual, o fascínio com esta temporalidade que saiu dos eixos insinuava-se como a marca crescente da literatura, música e cinema desde o final do século passado, como Mark Fisher demonstrou, diagnosticando esses novos modos como «o esquisito e o insólito». No essencial, dava conta da profunda apreensão com tudo o que escapa à percepção, cognição ou experiência comum, uma espécie de alucinação negativa que privilegia paisagens desoladas ou estruturas abandonadas, em cujo aparente esvaziamento algo adquire vida própria, independente das pessoas, com uma energia política nova que excede a mera evocação nostálgica da austeridade, a melancolia pós-imperial e o rescaldo assombrado. Se o género fotográfico escapou inicialmente a esta análise cultural, acabaria por dominar estes modos, redefinindo-se tanto por aquilo que mostra e não mostra, como por aquilo que se vê e não se vê, emergindo como palco central para debates sobre verdade, história e identidade. A estranha convergência entre este modo e a pandemia ilustra a dupla condição do impasse que habitamos: se a linguagem e o tempo, o conhecimento e a experiência se inquietam de uma forma sem precedentes, também as promessas ideológicas dependem hoje como nunca da representação. O género fotográfico intempestivo anunciava a relevância aguda que a vida subjectiva e a terra ocupada viriam a obter durante a pandemia, como que prenunciando que a contestação à cidade se faria em torno do vazio e do monumento: contra as expulsões e as deslocações forçadas em metrópoles que parecem aguardar novos inquilinos indefinidamente, e contra o desfasamento entre os símbolos públicos deixados em representação no deserto da cidade e as populações que dela não se puderam ausentar para um confinamento. Se este novo género fotográfico parecia, dessa forma, tornar palpável uma experiência do mundo em fragmentos, no qual a passagem do tempo não significava progresso mas antes desintegração, revelava também inversamente um espaço comum a ser ocupado como território e memória.
[...]
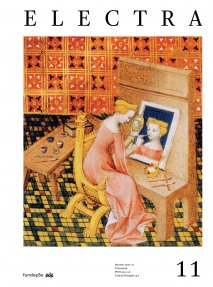


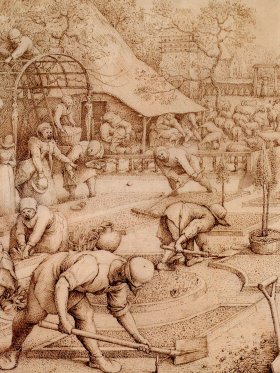

Partilhar artigo