Passam vinte anos sobre a publicação de Provincializing Europe, um livro que deu grande projecção académica à obra do historiador Dipesh Chakrabarty. Nascido em Calcutá em 1948, Chakrabarty formou-se na Índia e doutorou-se na Austrália, em cujas universidades ensinou, antes de se instalar em Chicago, nos anos 90.
Com a publicação de Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference, o historiador tornaria célebre a ideia de que os termos por que as ciências sociais descrevem o mundo são inadequados ao conhecimento desse mesmo mundo: ainda que presumam a capacidade de o objectivar, tais ciências e suas descrições da realidade inevitavelmente acusam um ponto de vista subjectivo cujos efeitos tendem a ignorar. Uma das formulações mais célebres de Chakrabarty, que se tornaria uma espécie de slogan da sua obra, menciona precisamente o facto de as ciências sociais serem simultaneamente «indispensáveis e inadequadas».
Para Chakrabarty, o facto de as ciências sociais ignorarem os efeitos do seu próprio ponto de vista subjectivo era também o resultado de um privilégio epistémico que a proveniência ocidental de tais ciências lhes conferia. O poder alcançado pelas principais potências europeias ao longo da época moderna e contemporânea permitiu que o conhecimento produzido pelas instituições de saber se escutasse como a voz da humanidade e da própria história — e não simplesmente enquanto uma de entre outras falas que compõem um mundo plural e diverso. O colonialismo fez o seu caminho a tiros de pólvora e à boleia do tráfico de escravos, mas também de dominação cultural e epistémica. Contra a Europa enquanto imagem do futuro a que o resto da humanidade estaria destinada, Chakrabarty deu-nos a ver o continente enquanto uma de outras províncias desse mesmo mundo.
Mais do que apontar o dedo às visões eurocêntricas do passado elaboradas pelos seus colegas ao longo do trajecto da disciplina, a crítica que Chakrabarty formulou em Provincializing Europe abriu caminho a um exercício de problematização. À luz da teorização de Dipesh Chakrabarty — e de outros estudiosos que gravitam na órbita dos estudos pós-coloniais —, o eurocentrismo, mais do que um pecado que as ciências sociais deverão evitar se quiserem produzir melhor conhecimento, é endémico a essas mesmas ciências sociais. Os próprios conceitos de «sociedade» e «social» — ou de «humanidade» e «humano» — desde logo veiculam formas particulares (e não universais) de identificação, codificação e interpretação do real. Longe de nascerem espontaneamente em qualquer lugar e a qualquer momento, são construções históricas que emergem com um determinado contexto, consubstanciando ideias e mentalidades que não eram de todo características de muitos daqueles que viviam fora da Europa. Em suma, por mais universal que seja a ambição do conhecimento das ciências sociais e humanas, ele é inevitavelmente particular à modernidade ocidental, ao tempo e espaço em que tais ciências se constituíram.
Afim à crítica derridiana da metafísica ocidental, e promovendo um encontro inusitado entre Marx e a filosofia de Heidegger, Provincializing Europe poderá ser antes de mais entendido como o resultado de um percurso astucioso que Chakrabarty foi trilhando. À semelhança de outros participantes pessoado colectivo dos «Subaltern Studies», foi no quadro das suas investigações empíricas em torno da Índia que Chakrabarty se confrontou teoricamente com os limites da disciplina — como se os passados não ocidentais resistissem a ser domesticados pelos códigos e conceitos fundamentais da história, e desta resistência emergisse um problema sem outra solução que não o seu constante aprofundamento.
A investigação em torno da história da classe operária em Bengala levou-o a um conjunto de impasses que procurou enfrentar em Rethinking Working-Class History: Bengal 1890–1940. Tal confronto sugeriu-lhe que a disciplina da história tinha, ela própria, origens específicas, tributárias do moderno pensamento ocidental, sendo que mesmo as correntes mais heterodoxas, como o marxismo, se mostravam limitadas na hora de interpretar tanto passados europeus pré-modernos, como passados não ocidentais.
Passados como os da Índia convocavam deuses, espíritos e elementos naturais que desafiavam as interpretações secularizadas, preconizadas pelo conhecimento ocidental. Pressupondo uma divisão entre, de um lado, aquilo que seria da esfera do «social», do «humano» e do «real», e, do outro, aquilo que seria do âmbito da «natureza», da «religiosidade» e do «mito», tal conhecimento revelava-se, aos olhos de um historiador como Chakrabarty, uma forma situada de saber — uma forma culturalmente específica de conceber, compreender e habitar o mundo, mais do que uma forma correcta de o conhecer e interpretar.
Sem abandonar por completo estes debates, nos últimos tempos a atenção de Dipesh Chakrabarty virou-se para a temática das alterações climáticas e a questão do Antropoceno. A publicação de «The Climate of History: Four Theses», na revista Critical Inquiry em 2009, ao qual se seguiram outros artigos1, deu início a um novo capítulo da sua obra, mote para a entrevista que em seguida aqui se publica.
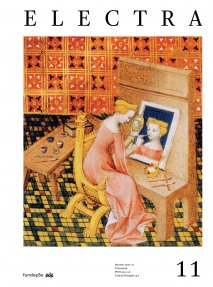




Partilhar artigo