A apresentação deste dossier a que chamámos «Nesta Grande Época» requer que destaquemos alguns dos temas eleitos, por remeterem para fenómenos e ideias característicos do nosso tempo, mas também que interroguemos a própria noção de época, a sua inteligibilidade e a sua individualidade, num tempo obcecado com o contemporâneo, mas incapaz de lhe dar um conteúdo preciso e de o delimitar cronologicamente.
«Nesta grande época que conheci, era ela tão pequena; e que voltará a ser pequena se lhe restar ainda tempo para isso […]». Assim começava um dos mais violentos libelos com que Karl Kraus fustigou o seu tempo e a vida política e cultural de Viena, que ele disse ser uma «estação meteorológica», onde se captavam os sinais do «fim do mundo». Estávamos em 1914, Kraus mantinha acesa, quase sozinho, a chama incendiária da sua revista, Die Fackel, na qual publicou este artigo que se chamava precisamente «Nesta Grande Época» (In dieser großen Zeit). O seu tom apocalíptico era partilhado e cultivado sem moderação e estava presente em quase todos os «diagnósticos do tempo», um género ensaístico que forneceu abundante literatura nas primeiras décadas do século XX.
Ao convocarmos o texto de Karl Kraus (ou melhor, as palavras iniciais que lhe deram o título) para nomearmos o assunto da secção central deste primeiro número da Electra, não pretendemos restaurar o tom apocalíptico nem reclamar a autoridade de uma visão da história universal que fazia da noção de «época» um instrumento metodológico fundamental. É certo que a palavra «fim» veio novamente assombrar o nosso tempo. Pós-modernidade foi a designação dada ao fim da «grande narrativa» modernista. E o chamado «discurso pós-moderno» pretendeu tornar inteligível um novo período histórico que chegou depois do fim, que só podia ser designado como «pós»: pós-ideológico, pós-utópico, pós-histórico, etc.. A pós-democracia sobre a qual escreve Roberto Esposito no dossier remete para um «estado de coisas» que se revelou mais recentemente, quando a democracia liberal que era considerada inerente ao triunfo global do capitalismo entrou na sua fase de fadiga ou de regressão. E assim a própria noção de «pós-modernidade» perdeu, desde o início deste século, um certo poder de irradiação que chegou a alcançar como designação do tempo em que vivemos, o nosso presente.
As razões são muitas e foram objecto de um debate que, de resto, ainda não chegou ao fim. Recordemos que foi um dos principais teóricos da pós-modernidade, o filósofo francês Jean-François Lyotard, autor, em 1979, de La Condition postmoderne, que alguns anos depois veio dizer que tratar o prefixo «pós», no termo «pós-moderno», no sentido de uma simples sucessão, de uma diacronia de períodos históricos, cada um deles identificável, é prosseguir uma lógica de pensamento totalmente moderna, o que mostra bem a falta de clareza que o conceito sempre possuiu, pois tanto serviu para perceber o anúncio do «fim da história» feito por Fukuyama (um anúncio cuja ressonância foi eminentemente pós-moderna), como para caracterizar tendências e estilos vestimentários e da vida urbana. E, de um modo mais geral, o anúncio de que tinham chegado ao fim as grandes narrativas de emancipação criou a ideia de um fim da política e do conflito que, afinal, reacenderam de outras formas.
Impuseram-se entretanto, no discurso da teoria política, mas também nos meios «profanos» do espaço público mediático, palavras como «biopolítica» (de que trata também o texto de Roberto Esposito) «neoliberalismo» (que cita sobretudo a era de Reagan e Thatcher), e «populismo». De um modo geral, começou-se a falar de regressão, ou até mesmo de «grande regressão», como reza o título de um livro colectivo, publicado primeiro na Alemanha, no início de 2017, e logo a seguir em vários países europeus, que faz pensar num tópico que se tornou recorrente: a nossa época manifesta alguns sinais característicos do final dos anos 20 e dos anos 30 do século passado. Aquilo a que se chamou «modernização regressiva», característica do nosso tempo, teria alguma correspondência na «revolução conservadora» que antecedeu a Segunda Guerra, ao ponto de se falar hoje, evocando Norbert Elias, de des-civilização. Recordemos que a «revolução conservadora», na Alemanha das primeiras décadas do século XX, foi uma reivindicação da Kultur contra a civilização, como está bem presente nas Considerações de um Impolítico, de Thomas Mann. E, de um modo geral, tornou-se evidente um global deslocamento para a direita (mesmo para a direita extrema), de tal modo que já se chamou a esse movimento bem perceptível a «direitização do mundo».
As filosofias da decadência e os apocalipses do tempo de Kraus têm hoje uma feição muito menos «espiritual» e designam no nosso tempo algo que não passa pelas filosofias da história e por categorias teológicas porque se referem, brutalmente, à ideia de extinção e autodestruição da humanidade. A ideia de catástrofe, hoje, aparece associada às catástrofes naturais que, nas suas manifestações mais recorrentes, não são nada naturais: são catástrofes ecológicas que decorrem da acção continuada do homem sobre o planeta, aceleradas pela «economia fóssil» que se iniciou com a Revolução Industrial e cresceu exponencialmente até aos nossos dias, tornando plausível a ideia de que entrámos há algum tempo numa nova era geológica a que se deu o nome de Antropoceno. Este é o grande tema da nossa época, tratado neste dossier da Electra por um filósofo francês, Frédéric Neyrat, que está na linha da frente do debate em torno das questões da ecologia política. Biopolitique des catastrophes (2008) e La Part inconstructible de la terre. Critique du géo-constructivisme (2016) são dois dos seus livros fundamentais para este debate. Que nesta grande época continua a ser glosado o tema apocalíptico de outrora, mas agora sub specie ecologica, mostra-o o livro da filósofa brasileira Déborah Danowski e do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, Há Mundo por Vir? Ensaio sobre os medos e os fins, motivo de uma entrevista concedida ao filósofo italiano Andrea Cavalletti, incluída no dossier.
A referência a Karl Kraus deve-se à convicção de que ele chega até nós com um poder crítico e analítico que serve de antídoto à ausência de pensamento implícita nessa ideologia disfarçada de realismo que nos diz que as coisas são como são e não podemos deixar de aderir acriticamente a elas. Temos porém de perceber que a ideia de que é possível caracterizar e interpretar o significado de «um estado de coisas», de maneira a obtermos uma entidade homogénea a que chamamos «a nossa época», pôde servir de base a todo o exercício crítico-satírico de Karl Kraus, mas que quando transposta para o nosso tempo afigura- se muito menos razoável e convincente. Kraus e outros escritores e filósofos seus contemporâneos aplicaram-se a olhar para a esfinge com que estavam confrontados, a época como individualidade efectiva do progresso histórico e dotada de um «espírito » (o chamado «espírito do tempo», o Zeitgeist), munidos de aparelhos conceptuais que resolviam os enigmas da esfinge e serviam de instrumentos de identificação e análise dos sintomas. De acordo com este procedimento que tratava a cultura, a sociedade e o próprio devir histórico como órgãos atacados por patologias, proliferaram então os «diagnósticos da época». Ora, hoje já não podemos ter a ilusão de que é possível essa prática médico-analítica porque o objecto do diagnóstico já não se oferece, aos nossos aparelhos teóricos de captação, com uma tal evidência. Os traços específicos de uma situação epocal perderam nitidez, a nossa época já não se apresenta com uma tonalidade homogénea, dotada de um som único e próprio. Chegou ao fim uma visão da história configurada numa sucessão de épocas autónomas. Em vez dos diagnósticos e das representações figurativas da época, o que temos hoje são tentativas de estabelecer mapas de conceitos nómadas e de um léxico que sirva para nos orientarmos. Experimentámos fazer esse exercício no final do dossier, autolimitando- nos a um léxico de dez palavras. Uma dessa palavras é «género», que, por se ter tornado tão dominante nos discursos contemporâneos (nas ciências humanas e sociais, mas também no discurso quotidiano), merece mais do que integrar um glossário do presente: é tratado autonomamente e desenvolvido por Pê Feijó. Mas podíamos prolongar o léxico, acrescentar- lhe outros verbetes, tais como «biopolítica», «futuro», «Internet», «multiculturalismo», «politicamente correcto», «populismo», «precariedade», «terrorismo ». Havemos certamente de regressar a alguns destes temas, já que todos eles se situam no horizonte das questões e debates contemporâneos com que esta revista se irá confrontar.
Ao contrário do que tinha acontecido desde o Iluminismo, que teve a consciência de representar uma nova época em estado puro, nós não temos um nome próprio para o nosso tempo. Ou melhor, temos para ele uma cacofonia de nomes. Um deles, talvez o que melhor ilustra a dificuldade de fazer diagnósticos e de conceder à nossa grande época uma figura que dê sentido e forma inteligíveis às suas manifestações, soa como uma tautologia: «época das epoquizações » (devemo-lo ao filósofo Odo Marquard). O que significa isto? Que há hoje uma aceleração do tempo que leva a identificar unidades históricas cada vez mais breves, de tal modo que o nosso tempo é aquele em que nada se sedimenta porque imediatamente se torna passado. São «tempos interessantes» como lhes chamou Slavoj Žižek e, antes dele, o historiador Eric Hobsbawm. São tempos em que é impossível o surgimento de uma obra literária profundamente enraizada no seu tempo, como foram os grandes romances modernistas, o Ulisses de James Joyce, por exemplo, do qual Hermann Broch disse ter a capacidade de apreender a totalidade concreta da «vida quotidiana universal da época», dando-lhe forma e expressão.
Em última análise, é a própria noção de época que temos de olhar de forma crítica porque já não corresponde à percepção de uma unidade temporal inteligível. «The time is out of joint» («o tempo desconcertou- se», na tradução de António M. Feijó, na edição da Cotovia): esta frase de uma fala de Hamlet ganha hoje uma nova ressonância. A palavra «época », não esqueçamos, vem da palavra grega epokhê, a mesma palavra que é utilizada em filosofia para designar a suspensão do juízo e que significa, simultaneamente, um período de tempo, uma era, uma época, mas também uma interrupção. A época das epoquizações, paradoxalmente, acaba por ter alguma afinidade com a ideia de Bernard Stiegler de que vivemos numa época da ausência de época. Parece uma formulação muito abstracta, pura linguagem da teoria que nos obriga a olhar para cima, para os astros, e nos faz correr o risco de, tal como Tales de Mileto, cair dentro de um poço por não vermos onde pomos os pés. Mas a verdade é que Stiegler foi buscar o conceito ao depoimento de um jovem francês, Florian, para um livro colectivo. Citemo-lo, porque nesta grande época é difícil e doloroso tornar perfeitamente audíveis as palavras de um jovem de 15 anos: «Vocês não têm a noção do que nos acontece. Quando falo com jovens da minha geração, que têm dois ou três anos mais ou menos do que eu, dizem todos a mesma coisa: Já não temos aquele sonho de criar uma família, de ter filhos, um emprego e ideais como vocês tinham quando eram adolescentes. Tudo isso acabou, estou convencido de que somos a última, ou uma das últimas, gerações antes do fim.»

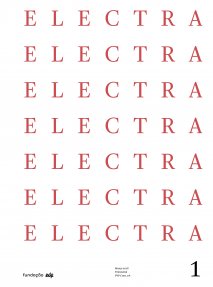


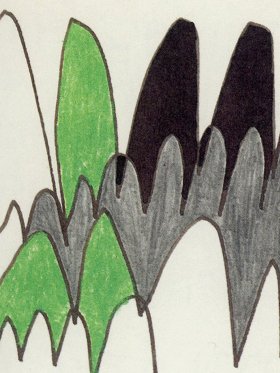

Partilhar artigo