No livro En public. Poétique de l’autodesign1, o teórico russo Boris Groys descreve um mundo em que a antiga divisão entre produtores e consumidores deixou de nos satisfazer, uma vez que a maioria de nós passou a preocupar-se com a auto-poiesis, isto é, com a criação de si mesmo. Esta tendência não é particularmente nova. Segundo Groys, ela começou com a morte de Deus e o aparecimento do artista de vanguarda, que tenta transformar a sua vida numa obra de arte. A acreditar em Groys, a estetização da vida andaria, assim, de mãos dadas com a morte de Deus. Mas terá ele razão? Diria que sim, visto que as pessoas modernas já não parecem preocupar-se com a vida depois da morte, mas antes com o número de likes ou de followers que têm nas redes sociais. Isto não significa que Deus seja menos operante. Um pai, como Freud nos ensinou, só se torna verdadeiramente poderoso depois da sua morte.
Em Dieu: La mémoire, la technoscience et le mal2, o filósofo francês Mehdi Belhaj Kacem constata, através de uma concepção imanente de Deus, que o Big Data é Deus e que a Internet não é outra coisa senão a sua capela. Se levarmos ao extremo a hipótese de Belhaj Kacem, será que podemos considerar os artistas e todas as outras estrelas da nossa época que fizeram da sua vida uma obra de arte os novos santos dessa nova capela digital? Não foi Atanásio de Alexandria que disse: «Deus fez-se homem para que o homem se tornasse Deus»3?
De um ponto de vista materialista, é fácil ver que, no mundo da arte, o autodesign se tornou uma forma de anular as antigas relações alienantes entre os artistas e os mediadores. Esta nova tendência implica que já não é «o espectador que faz a obra», mas o próprio artista, e mais do que isso, a matéria-prima da obra de arte passou a ser ele mesmo. O seu maior desejo: criar um mundo nele. Veja-se o caso de Marina Abramović. Em 2010, concebeu a obra The Artist Is Present — uma das performances mais marcantes de todos os tempos —, para o MoMA de Nova Iorque, em que durante setenta e cinco dias a artista se sentou durante sete horas diante de uma mesa no átrio do museu, vestindo, consoante os dias, um longo vestido vermelho, branco ou azul, e oferecendo-se aos olhares dos visitantes como uma estátua-viva, muda como uma deusa no interior do seu templo. Houve quem chorasse de emoção, houve quem regressasse várias vezes, abalado, suscitando ocasionalmente a mesma reacção em Abramović, que se inclinava para aqueles que mais pareciam precisar, pegando-lhes nas mãos. O artista torna-se assim um espelho, um psiquiatra, um confidente, um ponto de referência. Pouco depois, em 2012, ela deixou-se arrastar para The Life and Death of Marina Abramović, uma quási-ópera «larger than life» dirigida por Bob Wilson, em que Abramović, a pessoa, e Abramović, a artista, se ajustavam perfeitamente numa visão grandiosa da vida e da morte. Depois, veio a fase mais difícil de todas, uma etapa que pode demorar uma vida inteira: a arte de se livrar do ego recorrendo a toda a espécie de métodos budistas. Que tal venha de uma artista que quase se tornou uma marca pode parecer paradoxal. Mas Marina Abramović foi sempre uma mestre dos paradoxos, ou não tivesse criado, em 2023, o Institute for the Preservation of Performance Art, que tem como objectivo fazer evoluir a consciência dos seres humanos através da performance. Desde então, o instituto tem incentivado a colaboração interdisciplinar e a união entre os praticantes de todas as disciplinas, incluindo a arte, a ciência, a tecnologia e a espiritualidade.




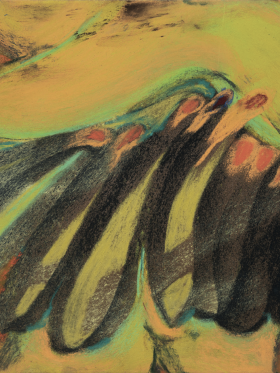
Partilhar artigo