É uma obra imensa, atravessando vários campos disciplinares, aquela que justifica esta entrevista a Boris Groys. A filosofia, a estética, a crítica, a história da arte e a teoria dos media são os territórios onde se move este autor que se tem ocupado com um enorme saber e originalidade da arte contemporânea, do seu sistema e das suas instituições. Nascido em 1947, na antiga República Democrática da Alemanha, Boris Groys cresceu na União Soviética, estudou matemática, lógica e linguística e levou para a República Federal da Alemanha, para onde foi viver em 1981, um profundo conhecimento das vanguardas russas e da arte soviética. As relações entre a arte e a política, e entre o artista e a sociedade, são um objecto privilegiado deste professor da importante Escola Superior de Artes e Design de Karlsruhe (1994–2009) e hoje da Universidade de Nova Iorque.

© Piero Mansoni
ANTÓNIO GUERREIRO Vindo de um país vasto, a Rússia, e tendo vivido sob o regime soviético até 1981, ano em que emigrou para a República Federal da Alemanha, como racionaliza essa experiência, em termos culturais e enquanto filósofo?
BORIS GROYS Sempre foi claro para mim que tive a oportunidade de testemunhar um acontecimento histórico único, um regime social e político excepcional. Nessa altura o regime estalinista já tinha acabado mas o capitalismo de tipo ocidental ainda não tinha chegado. Por isso, o povo soviético vivia numa espécie de tempo vazio, o que não era mau de todo para alguém que tendia mais para a contemplação do que para a acção. Era possível aceder à literatura, filosofia e informação sobre a arte ocidental, se estivéssemos de facto interessados nelas, mas publicações ou exposições do Ocidente eram impossíveis sem o consentimento oficial. Assim sendo, se quiséssemos fazer algo de diferente das normas culturais oficialmente instituídas — podíamos ler, falar, fazer arte, escrever — tínhamos de permanecer fora do radar, por assim dizer, de modo a não nos tornarmos conhecidos do público em geral.
AG No entanto, escapa completamente à tipologia dos intelectuais que fizeram esse percurso. Para nós, o seu discurso sobre o comunismo e a cultura estalinista é uma coisa nova. Quais foram as principais ideias feitas e clichês que sentiu necessidade de quebrar?
BG Não diria que no Ocidente fui confrontado com clichês ou ideias preconcebidas sobre a União Soviética. O que acontecia era que este país era completamente ignorado enquanto realidade histórica. Ou se era a favor do comunismo ou contra o comunismo. A União Soviética não era uma abstracção ideológica, mas antes um país habitado por milhões de pessoas muito heterogéneas tendo vivido quase toda a vida sob um sistema económico, político e social que era incomparável a qualquer outro sistema no mundo. No Ocidente, a cultura soviética era quase sempre descrita apenas em termos de censura. Escrevia-se muito sobre o que era censurado e porquê. Mas não havia tanto interesse naquilo que era permitido, publicado e exibido. Tentei compensar essa falta de interesse e análise.
AG Lendo um dos seus livros, Staline, oeuvre d'art totale, chegamos à conclusão de que há uma incompreensão muito grande do que foi a arte do realismo socialista e a sua herança estética, e é preciso até reavaliar o modernismo. O que é que no Ocidente nunca foi compreendido e porquê?
BG Mais uma vez, não diria que algo que era acessível ao público ocidental não era entendido. Mas o público ocidental via a arte da vanguarda russa e a arte do realismo socialista isoladas do seu contexto social, económico e político. É como quando vemos múmias egípcias ou objectos rituais incas num museu: podemos apreciá-los esteticamente, mas não entendemos muito bem qual terá sido o seu uso original. A arte soviética não era feita com o intuito de ser apreciada esteticamente. A sua produção pretendia antes criar um novo espaço na vida quotidiana dos cidadãos soviéticos. Esse espaço prefigurava o advento da sociedade comunista — mas era também um meio de construir essa sociedade. A arte soviética não pode ser entendida enquanto a sua dimensão activa, utilitária e criadora de vida for ignorada. Hoje em dia fala-se repetidamente sobre a possibilidade de a arte moldar a vida, mudar o mundo. A arte soviética constituiu uma experiência monumental de mudar o mundo. Faz por isso sentido olhar a sua história desse ponto de vista. E foi precisamente isso que tentei fazer.
AG É ao mesmo tempo filósofo e crítico de arte, mas em toda a sua obra as fronteiras entre essas duas disciplinas parecem ter sido abolidas. Que continuidade encontra entre a arte e a filosofia? Será esta pergunta uma outra maneira de colocar uma questão de que trata num ensaio recente sobre a arte como medium da verdade?
BG Sinto que hoje só existem dois campos de reflexão filosófica: a arte e a política. A natureza é descrita pelas ciências positivas. A cultura é descrita pelos estudos culturais. Contudo, a arte e a política não se podem tornar o objecto de descrições científicas — porque ambas reagem a estas descrições e tentam escapá-las. Hoje em dia, a filosofia e a arte são dois dos principais modos pelos quais o sujeito se pode manifestar no mundo. A nossa produção, incluindo também a produção cultural, funciona sobretudo de modo anónimo. No entanto, assinamos um discurso filosófico e assinamos uma obra de arte, um poema ou um romance. Dantes, podíamos dizer que a filosofia era auto-reflexiva e a arte puramente expressiva. Mas, pelo menos desde Nietzsche, a filosofia também se tornou expressiva — enquanto que, durante o período do modernismo, a arte se tornou cada vez mais analítica e auto-reflexiva. Assim, hoje em dia, as fronteiras entre as duas tornaram-se, de facto, porosas.
AG Na sua aproximação à arte, o que conta mais não é uma estética, mas uma poética, isto é, a arte como produção: produção e pensamento do mundo. De que modo é que a arte permite pensar o mundo?
BG Eu diria que a arte é, em primeiro lugar, não sobre o mundo mas sobre o sujeito que a produz. A arte é um modo através do qual o sujeito pratica o desenho da sua própria aparência no mundo. A arte manifesta não o modo como eu vejo o mundo, mas o modo como quero que o mundo me veja a mim. Regra geral, a imagem que apresentamos ao mundo não nos agrada — por isso tentamos mudá-la por meio da filosofia, da política e da arte. E, ao mudarmos a nossa imagem, mudamos o mundo. Neste sentido, falo da primazia do poético. Através da sua prática, a arte transforma o mundo no qual acontece. A arquitectura, por exemplo: independentemente de gostarmos dela ou não, temos de viver dentro dela. A arquitectura define o nosso modo de vida — isso pode ser dito de todas as formas de design. Mas também somos formados pelos filmes que vemos, os livros que lemos, etc. Nada disso é feito pela natureza — nem por nós, enquanto leitores ou espectadores. E a nossa relação com toda esta arte não é uma relação externa, estética. Não temos a liberdade da distância estética e do juízo estético. Vivemos dentro da arte e somos formados por ela. Por isso é uma pergunta legítima: como é que este processo formativo acontece? E é precisamente uma questão da poética, não da estética.
AG A ideia de «global art» segue a par e é uma consequência da globalização? Ou as regras da globalização da arte são diferentes da lógica da globalização das mercadorias?
BG Em primeiro lugar, as obras de arte não são mercadorias. As mercadorias são consumidas, usadas — ou seja, anuladas, destruídas. As obras de arte, por sua vez, são protegidas, restauradas e salvaguardadas. Não são usadas, apenas observadas. Claro que as obras de arte podem ser vendidas e compradas. O comércio da arte faz, de facto, parte do comércio global. Mas, para lá do seu valor comercial, as obras de arte têm um valor simbólico que tem a ver com a sua capacidade de serem transculturais, universais. A arte contemporânea tem a sua origem na vanguarda artística do início do século XX. Nessa altura, os artistas da vanguarda rejeitaram as suas tradições nacionais, romperam com as suas identidades culturais e tentaram criar uma cultura nova, universalista e global. Este projecto de universalização e globalização ainda está activo e não pode ser reduzido ao mercado da arte. No contexto da arte, há muitas iniciativas que têm um carácter político — Estados, cidades e regiões querem apresentar-se, dar-se uma imagem. É essa a origem de todas as bienais, «Documentas», «Manifestas», etc. Claro que todos estes projectos expositivos também custam dinheiro, mas são financiados pelo mecenato, não pelo mercado da arte — ainda que a cooperação público- -privada desempenhe aqui um papel importante. De facto, hoje em dia, a cena internacional da arte é mais universalista do que qualquer outra parte da cultura contemporânea, porque a arte depende menos das línguas nacionais. É um motivo real para a circulação global da arte.
AG Num livro de entrevistas, fala da «política da imortalidade» que a arte se esforça por atingir; por outro lado mostra que a condição da arte moderna e contemporânea é a fluidez. Como se resolve esta contradição entre o desejo de imortalidade e a fluidez?
BG É um problema, de facto. Inicialmente, as instituições de arte, sobretudo os museus de arte, prometeram uma espécie de imortalidade secular às obras de arte. A imortalidade espiritual da alma era substituída pela imortalidade material da arte. A nossa cultura criou um sistema de arquivos em que os arquivos de arte tinham um papel especial. Todos os outros arquivos guardavam a memória do passado mas os museus não se limitavam a informar sobre a arte do passado — apresentavam esta arte ao olhar dos visitantes do museu. Contudo, no nosso tempo, os museus começaram a ser criticados pela sua selectividade. Além disso, os museus públicos são demasiado frágeis financeiramente para poderem fazer concorrência aos coleccionadores privados no mercado global da arte. É por isso que a Internet se torna cada vez mais o novo lugar predilecto para apresentar a arte ao público em geral. A Internet aparenta ser não selectiva, livre do poder dos curadores e verdadeiramente global. Mas esta imagem da Internet é enganosa. Após alguns anos em funcionamento, conseguimos ver de forma clara que o espaço da Internet não é unificado nem universal, mas antes extremamente fragmentado. Claro que, sob o seu actual regime, é possível aceder a todos os dados da Internet a nível global. Mas, na prática, a Internet conduz não à emergência de um espaço público universal, mas à tribalização do público. A razão para isto é muito simples. A Internet reage às questões do utilizador, aos cliques do utilizador. Dito de outro modo, o utilizador encontra na Internet apenas aquilo que ali quer encontrar. A Internet é um suporte extremamente narcisista — é um espelho dos nossos interesses e desejos específicos. No contexto da Internet, também comunicamos apenas com as pessoas que partilham os nossos interesses e atitudes — sejam atitudes políticas ou estéticas. Logo, o carácter não selectivo da Internet é uma ilusão. O funcionamento factual da Internet baseia-se nas regras de selecção não explícitas segundo as quais os utilizadores apenas seleccionam aquilo que já conhecem ou a que estão habituados. Claro que alguns motores de busca são capazes de pesquisar em toda a Internet. Mas estes programas também têm sempre certos objectivos específicos e são controlados por grandes empresas e não por utilizadores individuais. Para estes utilizadores individuais, a Internet é o oposto de, digamos, um espaço urbano onde temos permanentemente de ver aquilo que não queremos necessariamente ver. Em muitos casos tentamos ignorar estas imagens e impressões indesejadas, em muitos casos estas despertam o nosso interesse, mas em todo o caso é assim que expandimos o campo da nossa experiência. O mesmo se pode dizer do museu. As escolhas curatoriais: vemos o que não escolheríamos ver, o que chega mesmo a ser desconhecido para nós. Sendo, como já disse, uma instituição pública, o museu, se estiver a funcionar bem, tenta transcender a fragmentação do espaço público e criar um espaço universal de representação que a Internet é incapaz de criar. As exposições dos museus são interessantes e relevantes quando seleccionam os seus conteúdos a partir de diferentes fragmentos da Internet e de redes sociais. E, além disso, sim, a Internet é fluida — apesar de nos apresentar possibilidades de voltar a traçar o rasto da informação e salvaguardá-la. A Internet é privada e guiada por interesses privados que mudam ao longo do tempo. Claro que poderíamos imaginar o aparecimento de arquivos da Internet suportados pelos Estados que poderiam estabilizar a memória pública — numa analogia às bibliotecas e museus públicos. Mas, por enquanto,isso é apenas uma fantasia.
AG O que é hoje um museu, sob a condição fluida da arte contemporânea? Em que medida um museu de arte contemporânea é uma instituição paradoxal ou, pelo menos, obrigada a confrontar-se com novos desafios?
BG O museu contemporâneo é basicamente um palco para a organização de projectos curatoriais, instalações artísticas ou acontecimentos artísticos temporários. Como tal, é importante porque informa as pessoas daquilo que se passa na arte contemporânea. E a arte contemporânea é importante porque é um espaço público em que podemos formular e expressar as posições, atitudes e desejos que não se podem manifestar nos meios de comunicação dominantes. Mas qual é a principal diferença entre um projecto curatorial e uma exposição tradicional? A exposição tradicional trata o seu espaço como anónimo, neutro. O importante são as obras exibidas — não o espaço em que são exibidas. Logo, as obras são vistas e tratadas como sendo potencialmente imortais, até eternas — e o espaço da exposição como sendo contingente, acidental. É apenas uma estação onde as obras imortais, idênticas a si mesmas, fazem uma pausa das suas andanças pelo mundo material. Por sua vez, a instalação — artística ou curatorial — inscreve as obras exibidas neste espaço material contingente. Vemos aqui uma analogia com a transição do teatro e do cinema dos actores para o teatro e cinema dos autores. O projecto curatorial é a Gesamtkunstwerk, a obra de arte total, porque instrumentaliza todas as obras exibidas, faz com que sirvam um propósito comum que é formulado pelo curador. Simultaneamente, uma instalação curatorial ou artística é capaz de incluir todo o tipo de objectos — alguns deles obras ou processos inscritos no tempo, outros, objectos do dia-a-dia, documentações, textos, etc.. Todos estes elementos, bem como a arquitectura do espaço, o som ou a luz, perdem a sua autonomia respectiva e começam a servir a criação do todo em que visitantes e espectadores estão também incluídos. Assim sendo, também as obras de tipo tradicional se tornam temporalizadas, sujeitas a certo cenário que muda a percepção que se tem delas durante o tempo da instalação — porque esta percepção depende do contexto da sua apresentação — e este contexto começa a fluir. Logo, em última análise, todo o projecto curatorial demonstra o seu carácter acidental, contingente, acidentado, finito — a sua própria precariedade.
AG Escreveu que «a arte contemporânea é herdeira da revolução». Há uma tentação totalitária da arte?
BG Quando digo isso, o que quero dizer é que a arte contemporânea é herdeira do protesto contra o status quo. É uma herança difícil porque, ao se ser contra a tradição, é-se necessariamente parte da tradição — precisamente porque a nossa tradição é a tradição do protesto. Isso significa que, para a arte contemporânea dar continuidade à tradição artística, tem de negá-la. Mas negar a tradição significa continuá-la. É este paradoxo no qual se move a arte contemporânea.
AG As vanguardas históricas revelam uma relação profunda entre arte e política. E agora que a arte se tornou mais democrática, como é que pode ser entendida essa relação?
BG A arte tornou-se democrática? Não tenho a certeza disso. A arte quer ser universalista mas os meios artísticos existem e praticam a arte no interior das culturas nacionais. O nosso entendimento da democracia está intimamente ligado ao conceito de Estado nacional. Um fenómeno como a democracia universal não existe porque o Estado universal não existe. Por isso se pode dizer que hoje em dia o sistema da arte desempenha o papel de uma substituição simbólica de um tal Estado universal, através da organização de bienais, «Documentas» e outras exposições com pretensões de apresentarem a arte e a cultura universal, global — ou seja, a arte e a cultura do não existente Estado global e utópico. É por isso que a arte contemporânea é apresentada pela cultura e pelos meios de comunicação dominantes como não sendo democrática, mas antes elitista. O nosso tempo caracteriza-se por uma ausência de equilíbrio entre poderes políticos e económicos, entre instituições públicas e práticas comerciais. A nossa economia opera a nível global, enquanto a nossa política opera a nível local. Aqui, o sistema da arte tem um papel fulcral ao, pelo menos em parte, compensar pela falta de um espaço público global e de uma política global — embora este papel coloque a arte em oposição às culturas nacionais dominantes.
AG Pensar o «contemporâneo» tornou-se uma das tarefas mais comuns do nosso tempo. Porque é que a nossa época se mostra tão interessada em si própria? O que é que isto nos revela?
BG Não estamos muito interessados no passado — parece-nos demasiado diferente do nosso próprio tempo. Temos a sensação de que o nosso modo de existência se define, em primeiro lugar, pela tecnologia. E é óbvio que a tecnologia de hoje é diferente da tecnologia que era usada no passado. Isso cria a impressão de que o passado nada nos tem a dizer porque as nossas condições de existência são radicalmente diferentes. E não estamos muito interessados no futuro porque nos parece demasiado incerto, demasiado cheio de perigos possíveis. E, em geral, somos suficientemente iluminados para não olharmos para trás do horizonte da nossa existência presente, para não ignorarmos o facto de que somos mortais e a nossa vida curta. Por isso é apenas natural que estejamos concentrados no nosso próprio tempo — e que o tentemos compreender.
AG O museu, o arquivo, a Internet: como é que pensa a relação entre os três?
BG O museu e o arquivo fazem selecções que são explícitas e que podem ser criticadas. Escolhem o que parece ser relevante para a arte e para a história. Mas a Internet é simplesmente um enorme caixote do lixo. Ali encontramos tudo aquilo de que esperamos gostar — e, ao mesmo tempo, nada de relevante.
AG No seu livro Going Public afirma que que a Internet nos oferece uma combinação de hardware capitalista e software comunista. É uma concepção tão luminosa e sedutora quanto a definição que dá do comunismo como um «linguistic turn». Não se importa de desenvolver um pouco os argumentos que usou para chegar a estas duas definições?
BG Bom, o hardware da Internet é privado — mas a troca de informação na Internet é basicamente gratuita. Pelo menos, até agora, tem sido assim — ninguém sabe o que virá a seguir. Então, eu falo do comunismo como uma viragem linguística porque, sob as condições do comunismo-socialismo, devemos sempre explicar publicamente os motivos para as nossas acções. Não somos soberanos no sentido de que temos o dever da auto-explicação. Isso é diferente do que acontece na sociedade capitalista, em que se tem a liberdade de comprar e vender, desde que se tenha dinheiro para o fazer. Aí, a minha decisão de comprar alguma coisa é a única explicação. E há uma diferença em relação aos regimes fascistas que se baseiam na convicção de que os seus líderes são, de algum modo, escolhidos com base na raça ou na história. Esses líderes também não precisam de explicar as suas acções.
AG Como se transformou a relação entre o produtor e o espectador? Num dos seus livros faz um retrato do artista enquanto masoquista, sob a condição da cultura de massa. O que é feito do tão celebrado conceito moderno de autonomia?
BG Oh! A autonomia sempre foi uma construção ideológica. Sob a condição do mercado da arte, um artista depende do gosto do espectador-consumidor. O artista também pode tentar tornar-se soberano e ditar esse gosto. Mas aí o artista envolve-se na política, como fizeram os artistas da vanguarda. A autonomia total é impossível porque os artistas produzem arte não para eles mesmos, mas para os outros. Senão a arte não tem sentido.
AG Para além de filósofo e crítico de arte, é também apresentado como um «teórico dos media». Mas os seus ensaios de «medialogia» têm um alcance muito mais vasto do que aquilo a que essa nova disciplina nos habituou…
BG Suponho que as pessoas queiram dizer que sou um Medientheoretiker. O termo alemão Medientheorie não tem tradução exacta [em inglês]. Significa que a cultura é analisada enquanto processo material — não enquanto um conjunto de ideias. Ou seja, todo o tipo de comunicação, incluindo a literatura e a arte, é analisado do ponto de vista do seu suporte material — e do uso específico desse suporte. Neste sentido, sou um Medientheoretiker, sim, porque sempre me interessaram e continuam a interessar os aspectos materiais da arte e da cultura.
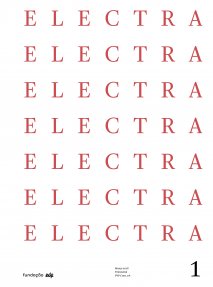
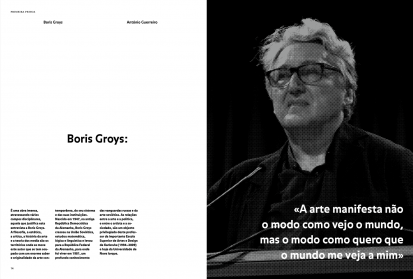

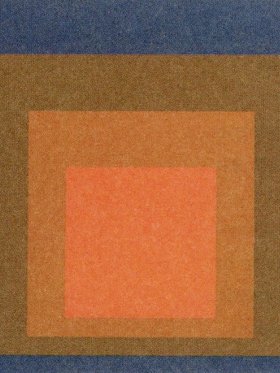
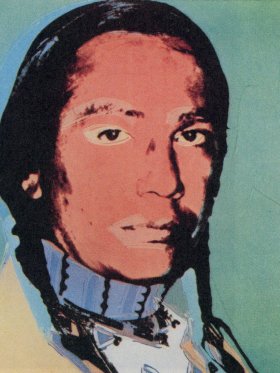
Partilhar artigo