Foi no início deste novo século que se começou a falar de «pós-democracia». O livro de Colin Crouch com este título é de 2000, enquanto a entrevista a Dahrendorf, intitulada «Depois da Democracia», é do ano seguinte. A tese que ambos sustentam é que, ainda que se mantenham em vida as instituições formais da democracia, a sua essência vital se esgotou em prol de um regime diferente a que não se pode propriamente chamar «democrático». As causas desta passagem são identificadas por ambos numa tripla crise — de representatividade, de legitimação e de soberania —, por sua vez dependente das dinâmicas de globalização que, nos últimos trinta anos, minaram os fundamentos do próprio lugar da democracia moderna, ou seja, os Estados nacionais dentro dos quais ela nasceu e se desenvolveu. Isto implicou, por um lado, a transferência do poder para organismos supranacionais de tipo económico-financeiro não electivos, logo, democraticamente ilegítimos; por outro, a crise vertical dos corpos intermédios — partidos, sindicatos, os próprios parlamentos — em prol de uma crescente personalização da política, causa e efeito ao mesmo tempo daquela tendência populista presente tanto na Europa como nos Estados Unidos da América, que se tornou o bode expiatório de todo o establishment e dos seus orgãos mediáticos.
Será esta reconstituição convincente? Restitui ela o verdadeiro alcance da crise em curso? Não estou nada convencido. Não tanto porque a sua fenomenologia esteja em si mesma errada, mas porque simplifica e reduz a duas décadas um evento que é bastante mais longo e complexo para quem procura trabalhar sobre acontecimentos contemporâneos em termos genealógicos, cruzando sincronia e diacronia. Desta história profunda — que levou ao esgotamento daquilo a que há muito chamamos «democracia» — não é aqui possível senão traçar um perfil rápido, parando em alguns dos seus momentos salientes, todos imputáveis a um processo de governamentalização da vida social, definida por alguns com o termo, na verdade hoje excessivamente empregue, de «biopolítica».
A primeira paragem deste percurso, naturalmente acidentado e contraditório como todos os processos históricos de longa duração, pode ser situada no início do século XVIII, quando a vida da população deixa de ser considerada pelo soberano como um recurso a consumir, carne para canhão até, tornando-se um bem precioso que requer ser protegido e desenvolvido. É então que, com a progressiva transformação do regime soberano em regime governamental, nascem e se desenvolvem os primeiros dispositivos de controlo e disciplinação da vida colectiva, activados primeiro pelo poder pastoral e depois pelos ditos saberes policiais, em conjunto com as instituições de serviços públicos de carácter sanitário e social.
O segundo acontecimento, se calhar ainda mais crucial na relação entre poder e saber, deu-se no início do século XIX com o nascimento da biologia como disciplina autónoma. É então que a vida biológica dos indivíduos e das populações se começa a tornar um saber especializado e performativo, e entre os seus nomes mais representativos encontramos Bichat, Couvier, Lamarck e Darwin. Que consequências têm o nascimento e o desenvolvimento dos saberes biológicos para as formas da política, quando a conservação assistida da vida passa a fazer parte dos objectivos do poder e o horizonte da história se coloca em relação com o da natureza? É então que o ser humano começa a ser considerado, para além de indivíduo, como um membro da espécie, ao mesmo tempo que a espécie humana entra em contacto com outras espécies vivas.
A partir desse momento inicia-se um processo de progressiva dessubjetivação, ou seja, de crise da subjectividade política, com consequências desagregadoras do próprio agir político. Aquele indivíduo, que tinha sido sempre considerado pela filosofia política moderna um sujeito guiado pela razão e pela vontade, começa a ser visto como um ser vivo atravessado, e amiúde determinado, por necessidades vitais, mas também por instintos e forças irracionais radicadas num estrato biológico originário, que ultrapassa e muitas vezes colide com a vida de relação. O que é posto em causa é o próprio pressuposto da filosofia política moderna de matriz hobbesiana que condiciona o nascimento do estado político à negação do estado de natureza. Uma vez que, com a passagem ao acto, ninguém se pode abstrair do próprio corpo e dos mecanismos profundos que o regulam, estado político e estado de natureza enredam-se inextricavelmente um no outro. Isto implica consequências profundas para o próprio modo de entender a acção política. Se as paixões dos homens são determinadas por impulsos em larga medida inconscientes, originados no fundo da vida orgânica, já não será possível canalizá-las para as estruturas do contrato social, de que os sujeitos humanos já não podem ser considerados os únicos autores.
O que começa a ser posto em causa é aquele núcleo duro de razão e vontade, atribuído à pessoa jurídica, que até agora tinha sido considerado a essência constitutiva do sujeito político. A partir do momento em que a ideia de instituições políticas inteiramente governadas por motivações racionais enfraquece, também o ainda jovem paradigma da democracia entra numa zona de progressiva erosão. Como se, a partir de então, o kratos da democracia já não se devesse referir ao demos, mas antes a um bios, senão mesmo a um ghenos. Para dar conta da viragem em questão — amadurecida no final do século XIX, mas que atinge dimensões cada vez mais nítidas nos últimos setenta ou oitenta anos — relembro três acontecimentos emblemáticos que mudaram radicalmente o panorama a que estávamos habituados. No final dos anos 60 do século passado, a questão do género, da geração e da genética alcança maior relevo, substituindo a semântica democrática do nomos pela semântica biopolítica do ghenos. O género, entendido como diferença sexual, e a geração, entendida como um conjunto de características sócio- culturais alternativas às das gerações precedentes, tornam-se cada vez mais centrais. Poucos anos depois, as primeiras experiências de manipulação genética — a partir das experiências com a ovelha Dolly — antecipam, pelo menos como possibilidade, uma relação ainda mais estreita, se bem que problemática, entre vida humana e tecnologia. Por fim, em 1972, realiza-se em Estocolmo a primeira conferência sobre o ambiente. Desde então, também a ecologia se tornou uma questão política de primeira importância.
Estes acontecimentos desenham uma complexa mudança de paradigma: a vida dos homens, a vida da espécie e a vida do mundo irrompem arrogantemente por um cenário político não preparado para lhes compreender plenamente o sentido. Crer que uma série de mutações desta natureza, centradas na questão do bios e do ghenos, deixam o cenário político inalterado é uma ilusão destinada a ser continuamente desmentida. Pode dizer-se que desde então, através de sucessivas vagas, a ruptura dos limiares entre o biológico e o político caracteriza de forma cada vez mais nítida o nosso tempo. Desde então, a questão da vida e da morte, da sexualidade e da saúde pública, da migração e da segurança irromperam arrogantemente por todas as agendas políticas, condicionando-as em larga medida. No seguimento de uma tal viragem, o horizonte político tornou-se por sua vez mais amplo e complexo, dilatou-se e deformou-se. Como se todo o léxico moderno, que por mais de três séculos deu forma à política, perdesse de repente o seu significado e fosse reduzido a pedaços pelo impulso de acontecimentos que já não consegue representar. É desde então, e não há vinte anos atrás, que a semântica democrática entrou em crescentes dificuldades.

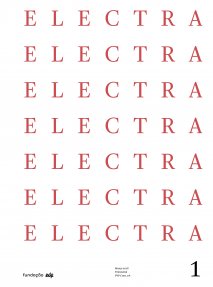

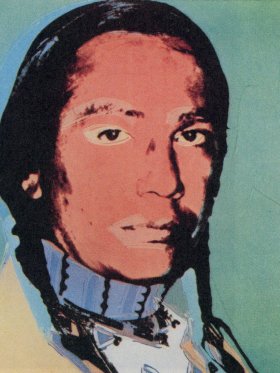

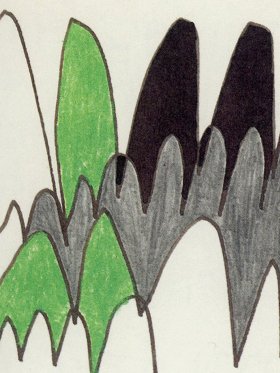
Partilhar artigo