A questão de como será o «mundo de amanhã», o mundo depois da crise da covid-19, é colocada de forma quase obsessiva. Os especialistas desdobram-se em virtuosismos para poderem, dentro de uns meses, anunciar convictamente: «Eu tinha previsto». Mas talvez seja necessário aceitar uma constatação mais profunda, mais grave e mais sábia: não haverá mundo depois. O mundo morreu.
Claro que alguma coisa sobreviverá. Nem as estrelas nem as plantas, nem as montanhas nem os insectos, nem as florestas nem os seres humanos desaparecerão de repente. Trata-se de uma outra coisa: tal como foi teorizado pelo filósofo Jean-Luc Nancy, o conceito de mundus em latim ou de cosmos em grego pressupõe a existência de uma transcendência comum — de uma ordem e de um sentido partilhados. E foi isso, ao que tudo indica, que hoje se perdeu.
Assim, a hipótese seria a seguinte: o mundo morreu. Não no sentido em que Nietzsche, numa espécie de malandrice jubilante e niilista, anunciou a morte de Deus. Não se trata aqui de um deicídio, mas sim de um cosmocídio. Sem dúvida mais simples, talvez mais performativo e certamente mais imanente, este meta-assassinato paradoxal abre tantas realidades possíveis como aquelas que fecha.
Por que razão desaparece agora o mundo? Em primeiro lugar, evidentemente, porque ele é aqui entendido como uma identidade conceptual humana e não como uma essência que possui valor em si mesma. As palavras nunca estão em correspondência inequívoca com as coisas. As coisas, aliás, não existem independentemente da relação que estabelecem com as palavras. Que sentido teria o carácter absoluto da ontologia se fosse independente das estruturas referenciais simbólicas ou mesmo orgânicas? O mundo, entendido desta forma, está de facto ameaçado como nunca esteve.
As guerras, os genocídios, as pandemias e até as catástrofes naturais sucederam-se ao longo da história. Numa acepção um tanto ingénua, não parece que actualmente esteja a emergir algo de novo na sua essência. Seria tentador pensar que, mais do que em qualquer outra época, a «globalização» permite à humanidade «existir». Viveríamos então, todos, num universo partilhado.
No entanto, é essa universalidade ilusória que contribui para o colapso cósmico, no sentido filosoficamente literal, a que hoje assistimos. Ao pressupor a disseminação dos significados e das direcções possíveis das teorias de tendência globalizante, a sociedade contemporânea inventou uma armadura que é tão grandiosa como frágil. Frágil porque qualquer incidente poderá fazer ruir todo o edifício que só se sustem graças a uma união artificial ou pelo menos, superficial. O início efectivo de uma unidade económico-simbólica generalizada, posta ao serviço dos interesses de uma minoria, tornou o mundo extremamente fragmentável. O mundo perdeu a sua plasticidade.
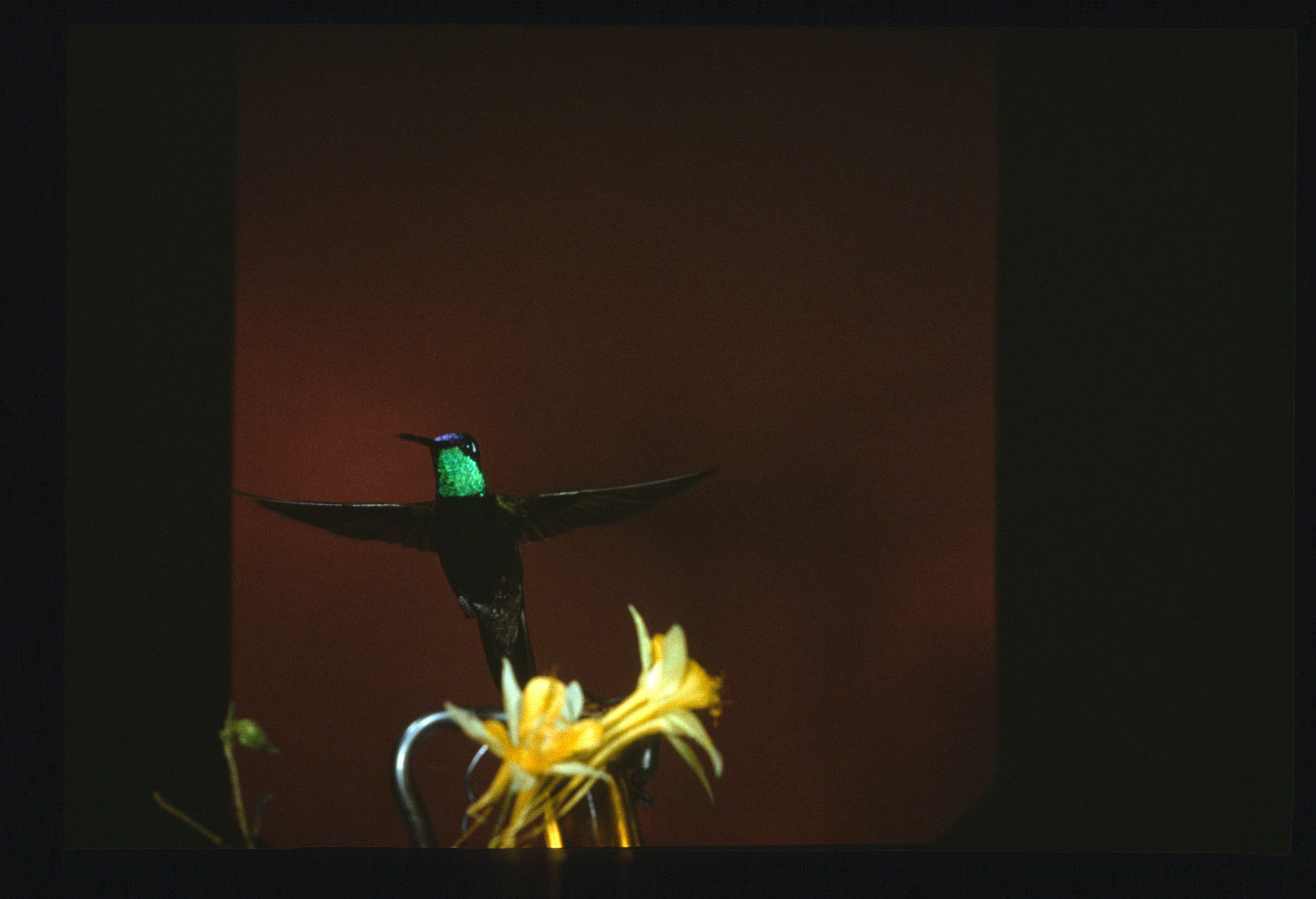




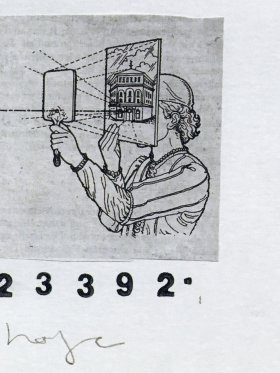
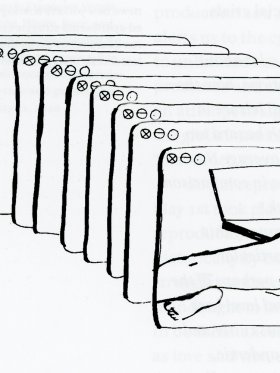
Partilhar artigo