Salvatore Settis é um historiador de arte e arqueólogo italiano cuja obra ganhou o legítimo direito a um vasto reconhecimento internacional. Mas não é sobre esta área do saber que incide esta entrevista ao professor Settis. «Professor»: esta forma de tratamento chama a atenção para a importante função que desempenhou enquanto director da Escola Normal Superior de Pisa, uma instituição universitária de elite, de 1999 a 2010. Foi, aliás, nessa condição que concedeu uma longa entrevista a Silvia Dell’Orso, publicada em livro (Laterza, 2004). Tratava-se aí de uma reflexão impiedosa sobre a universidade (e, muito especialmente, sobre a universidade italiana) e o lugar difícil que nela hoje ocupam as disciplinas das chamadas «humanidades». Essa vontade de carácter cívico — que o levou a sair do espaço estrito da investigação, ciência e transmissão — verifica--se também noutro domínio em que as intervenções públicas de Salvatore Settis ecoaram em toda a Itália e para além dela: o domínio da defesa do património cultural, não enquanto sobrevivências museificadas para ostentação de um título que é hoje quase uma categoria turística, a cidade histórica, mas na sua relação com todo o ambiente e capaz de conservar a «alma» da cidade, as suas características invisíveis sem as quais ela é um corpo inerte ou um território saqueado até ao esvaziamento. É sobre esta questão do destino das cidades históricas (dos danos a que são submetidas e dos males que sofrem), do património artístico e cultural e da paisagem como um bem público que devia ser considerado um «valor da humanidade» e um «ingrediente da democracia» aquilo sobre o qual interrogámos Salvatore Settis nesta entrevista. Como pano de fundo, temos um conjunto de livros que dão consistência sistemática à intervenção pública de um homem de saber e ciência, representante ilustre dessa disciplina com uma riquíssima tradição em Itália, a História da Arte, que convoca o domínio mais vasto das ciências humanas. No momento em que o governo de Berlusconi projectou a entrada em vigor de uma lei que, na prática, permitia vender a privados os palácios italianos e punha o Estado a desfazer-se do seu património cultural (o que levou o mais importante jornal alemão, o Frankfurter Allgemeine Zeitung a usar uma classificação radical, «os talibãs de Roma»), Salvatore Settis foi a voz autorizada da contestação. Dessas intervenções públicas resultou um livro publicado em 2007, com o título Italia S.p.A. L’assalto al patrimonio culturale. Foi uma batalha vitoriosa, que teve continuidade por outros meios e em relação a outros objectos vulneráveis e vítimas dos poderes públicos e privados, violentadas por quem detém a responsabilidade política e administrativa. Um livro de 2014, Se Venezia muore, é um momento alto deste empenhamento cívico, constitui um grito de alarme, mas é muito mais do que isso: é uma reflexão sobre a condição actual das cidades históricas, das quais Veneza é o símbolo supremo, sitiadas por decisões ignorantes e apelos económicos do turismo. Importa dizer que estes livros de Settis ditados por um empenhamento cívico têm uma forte dimensão ensaística e mobilizam um vasto saber histórico sobre a arte e as relações intrínsecas da cidade com a política. O seu mais recente contributo, neste domínio, chama-se Architettura e democracia. Paesaggio, città, diritti civili (2017), um livro que coroa uma longa reflexão sobre a responsabilidade e a ética do arquitecto, sobre a paisagem como «teatro da democracia» (na medida em que encarna valores colectivos, comunitários), compondo com o património histórico-artístico uma unidade que não pode ser quebrada. Mas, antes disso, em 2010, com Paesaggio, costituzione, cemento. La bataglia per l’ambiente contro il degrado civile, Salvatore Settis tinha partido da verificação do mal que atinge a paisagem italiana, sujeita que foi a uma devastação, para traçar a história dos fundamentos éticos e jurídicos, consagrados em várias constituições do mundo precisamente segundo o antigo «modelo Itália», que foram violados pela prática moderna da especulação imobiliária e assalto aos bens públicos. Os antigos princípios que estavam na base de uma tutela sobre o território como bem público remontam ao direito romano e constituem um capítulo importante da história italiana. Essa história, as suas inflexões e os códigos éticos e sociais implicados nas noções de paisagem, ambiente e território são o objecto deste livro que recorre a uma profunda investigação histórica para nomear e caracterizar as anomalias da situação presente.
O italiano Salvatore Settis é um historiador de arte conhecido pelas suas intervenções públicas e os seus ensaios sobre as ameaças que a gestão política e económica lança ao património. Sobre isto, mas também sobre o assédio turístico a que estão submetidas as cidades históricas e o papel e responsabilidade dos arquitectos se fala nesta entrevista.

Salvatore Settis em Lisboa, 2018
© Fotografia: Alexandre Ramos
ANTÓNIO GUERREIRO De si, enquanto historiador de arte e arqueólogo, poderíamos talvez dizer que segue o princípio de Foucault segundo o qual a arqueologia é a única via de acesso ao presente.
SALVATORE SETTIS Essa frase implica arqueologia como metáfora. Direi que a arqueologia como técnica e a arqueologia como metáfora se pressupõem reciprocamente. A arqueologia como técnica consiste em escavar as fases mais antigas. Mas porque o fazemos? Porque nos interessa o passado, o nosso passado se escavamos na pátria, o passado dos seres humanos, como nós, se escavamos na China. A arqueologia como metáfora (usada por Foucault, mas já antes por Freud) é importante porque supõe o problema da relação entre a memória colectiva e a memória individual. Falo da arqueologia como metáfora se o faço em nome da comunidade. Interessa recordar o nosso passado, na medida em que vivemos hoje numa sociedade obcecada com o presente. Pessoalmente, penso que este «presentismo», como lhe chama o historiador francês François Hartog, nos impede não só de pensar o passado, mas também nos bloqueia face ao futuro. Não conseguimos construir o futuro porque estamos obcecados com o presente. E sabemos bem que o presente hoje é complicado, absorve muitas das nossas energias. Ora, a arqueologia é uma técnica para fugir ao presentismo, trabalhando sobre o passado para pensar o futuro. Este é o modo como vejo a função da arqueologia.
As cidades não são museus, são para se viver nelas e por isso não se deve entender a tutela da conservação como se fosse para deixar tudo num estado de hibernação. Eu não quero que a protecção do património signifique hibernação.

AG Encontramos as bases do conceito moderno de património cultural em Aloïs Riegl, que foi director do Museu das Artes Decorativas de Viena, e escreveu em 1903 O Culto Moderno dos Monumentos. Segue Riegl no seu conceito de património cultural?
SS Creio que Riegl foi extraordinariamente importante, mas temos de voltar muito mais atrás. Tentei seguir uma perspectiva italiana porque os meus primeiros escritos sobre o tema foram escritos polémicos contra alguns governos italianos que pensaram vender o património ou reduzir a vigilância sobre o património. Procurei trabalhar a partir de uma tradição italiana muito mais antiga do que Riegl. Cito, em particular, dois exemplos muito significativos: o estatuto, a constituição da comuna de Siena, que era uma república indepenprimeira dente em 1309, segundo a qual a beleza deve ser a principal preocupação da cidade, quem governa a cidade deve pensar em primeiro lugar na beleza da cidade. E da beleza da cidade deriva a prosperidade, a allegrezza a [alegria] e a felicidade. E há ainda um outro texto importante, a chamada «Carta de Rafael a Leão X», de Rafael Sanzio e Baldassarre Castiglione, o autor de Il Cortegiano, de 1519, sobre a protecção e conservação das antiguidades de Roma. Há uma longa tradição italiana de preservação do património.
AG É aquilo a que chama «modelo Itália»…
SS Obviamente que em todo o mundo houve alguém que reconheceu qualquer coisa como belo e com interesse, e por isso digno de ser conservado. Mas o «modelo Itália» em que consiste? Consiste em traduzir este sentido de natureza estética em sentido de natureza ética e jurídica, em dar-lhe um fundamento jurídico. Esse sentido jurídico é fornecido pelo direito romano. Porque no direito romano há alguns conceitos, como o de dicatio ad patriam, a regra de submissão a um uso público segundo a qual se faço uma casa e ponho estátuas na fachada, as estátuas são minhas mas não as posso retirar porque passaram também a ser pertença pública. Em toda a legislação italiana, em particular em Roma, mas também no grão-ducado de Toscânia, no ducado de Modena, em vários Estados italianos do reino de Nápoles, houve sempre esta atenção às normas de protecção do património, traduzindo assim a ideia de beleza num valor ético e num significado jurídico e normativo. A tudo isto se sobrepõe o conceito de patrimoine national, tal como ele se desenvolveu a partir da Revolução Francesa, porque no ancien régime a protecção está ligada ao soberano, o Papa protege as antiguidades de Roma porque são suas. Depois da Revolução Francesa as antiguidades de Roma são protegidas porque são do povo. Quando a soberania passa para o povo, este conceito de natureza jurídica assume um significado muito diferente e pode tornar-se um princípio de solidariedade no interior de uma sociedade.
Tal como os médicos têm uma responsabilidade em nome da qual estão vinculados ao juramento de Hipócrates, em que juram que farão tudo para curar o doente e não farão nenhuma mal ao paciente, o arquitecto deveria estar sujeito a algo semelhante.

© André Vicente Gonçalves
AG É aquilo a que chama a função civil do património. Em que momento essa função civil começou a estar mais em perigo?
SS Pode-se dizer que está constantemente em perigo. Todas as leis se fazem porque existe o que as torna necessárias. Só se legisla contra o homicídio porque se cometem homicídios. Sempre que há uma lei para a protecção do património cultural, isso quer dizer que há, e sempre houve, uma tensão conflituosa entre as normas que conservam e as que querem destruir. Ainda hoje é assim. Mas há uma dupla novidade dos últimos 50 anos: de um lado, as normas de tutela do património histórico-artístico não existiam em nenhum país, eram muito raras. A primeira constituição que fala disso é a alemã, da República de Weimar, de 1919; a segunda é a constituição republicana espanhola de 1931; a terceira é a constituição italiana de 1948. No pós-guerra, depois de 1950, a tutela do património tornou-se um facto mundial, entrou nas constituições e nas legislações dos países da América Latina, da Ásia, de África. Por um lado, é um facto que o modelo europeu se difundiu. Mas, por outro, nos países em que esta tradição é muito mais antiga, como em Itália, afrouxou a atenção. O que acho interessante é que estes dois modos de desenvolvimento são opostos: difunde-se muito a nível mundial a normativa de tutela (esta é uma palavra-chave na constituição italiana) porque se teme que as obras de um certo país, por exemplo as obras dos maias, dos astecas, etc., sejam desviadas para o mercado. É uma norma que se difunde como reacção ao mercado. Em Itália, pelo contrário, a normativa enfraquece porque o mercado internacional é poderoso e deseja muito as obras de arte italianas, do Renascimento, por exemplo, mas também a arte antiga, as esculturas e os vasos que se encontram na Itália meridional. É então interessante ver que se há um desenvolvimento positivo e um desenvolvimento negativo, ambos são condicionados pela força dominante do nosso tempo que é o mercado. Num país como Itália existem forças que vão em direcções opostas, há sempre uma contradição e um equilíbrio instável. Creio que a função que pode ter um historiador de arte ou um arqueólogo como eu é insistir numa vertente para pôr um travão na outra.
AG O seu livro Italia S.p.A. L’assalto al patrimonio culturale correspondia a um momento de perigo extremo.
SS Foi de facto a resposta a um momento de perigo extremo. Tínhamos um governo de Berlusconi que imaginou a feitura de uma lei segundo a qual todo o património imobiliário público, incluindo o Palácio do Quirinal, a residência oficial do Presidente da República, poderia ser vendido, em princípio, como solução para a dívida pública. A ideia era vender os nossos palácios públicos, encaixando assim muito dinheiro de uma só vez, continuando a usá-los mediante o pagamento de aluguer. Obviamente, nada disto funciona, mesmo de um ponto de vista estritamente económico, e foi o próprio governo Berlusconi que aboliu este projecto alguns anos depois. Quando empreendi essa batalha, estava quase sozinho, mas a batalha foi bem sucedida, a lei foi cancelada, ainda que algumas coisas mais pequenas tenham continuado a ser vendidas. Mas a operação global nunca foi realizada.
AG Mas vai mais longe, denunciando a tendência para vender a própria paisagem.
SS Esse era um tema marginal porque a lei naquele momento não falava de paisagem. Mas a constituição italiana, como também a constituição portuguesa, na tutela do património histórico-artístico, compreende também a tutela da paisagem. O que é absolutamente justo: as duas coisas, a paisagem e o património artístico, formam uma unidade. A paisagem está submetida a um risco diferente, ao risco de ser entendida não como uma propriedade colectiva, pelos seus valores estéticos, éticos, históricos, etc., mas simplesmente como um terreno sobre o qual se pode construir. E então o seu valor económico, a procura do lucro sobre os imóveis, torna-se dominante em relação a qualquer outro valor. Num livro posterior que se chama Paesaggio, costituzione, cemento, procurei argumentar, reconstruindo toda a história das leis italianas desde a Idade Média, que a propriedade privada, não sendo posta em causa, está sujeita a uma regra sobre como intervir em determinada paisagem, segundo o princípio do interesse público, reconhecido pelo ordenamento jurídico italiano. Hoje, em Itália, já não se corre o risco que o Estado venda os seus museus, as suas obras de arte. Mas a paisagem italiana continua a ser devastada, continuam-se a construir casas por todo o lado, ainda que a população italiana não esteja a crescer. Porque temos de construir tanto se o número de pessoas é o mesmo? Vejamos o exemplo de Roma: porque se projecta construir arranha-céus, quando existem mais de duzentos mil apartamentos vazios? Esta é uma pergunta muito radical que eu continuo a colocar desde há anos.
AG Fala-se agora muito dos centros históricos das cidades. Mas este conceito de «centro histórico» é determinado em grande parte pelo turismo. A conservação é obrigatoriamente um sinónimo de museificação?
SS Bela questão. Eu sou completamente contrário a qualquer modo de museificação da cidade; a cidade não é um museu. Em Itália tornou-se corrente o discurso sobre a cidade-museu. Veneza é o exemplo maior, mas há também o centro histórico de Florença. As cidades não são museus, são para se viver nelas e por isso não se deve entender a tutela da conservação como se fosse para deixar tudo num estado de hibernação. Eu não quero que a protecção do património signifique hibernação. A realidade não hiberna, a própria paisagem está em contínua mudança. Nas cidades históricas, mesmo nas mais preciosas, não se devem excluir em absoluto mudanças. As mudanças são necessárias. A cidade histórica deve ser uma cidade que tem um corpo e uma alma que lhe é dada pelos cidadãos. E os cidadãos não podem ser postos num museu, não podemos considerar os cidadãos que vivem no centro histórico de Siena como peças de museu, porque estão vivos, têm uma vida. Creio que a própria noção de centro histórico é uma noção que comporta riscos: existe para dizer que há coisas em que não se toca ou, antes, para tornar possível tudo o resto? Foi feita para não podermos construir no centro de Florença, ou para fazermos o que quisermos na periferia de Florença? Para não podermos implantar uma grande indústria na Praça de São Marcos ou para implantá-la em Marghera, onde não deixará de contaminar todo o ambiente da Laguna? A noção de centro histórico serve para legitimar o desenvolvimento das periferias, que são a mais significativa criação arquitectónica italiana dos últimos 50 anos, mas também a mais feia dos últimos três mil. A arquitectura italiana teve quase sempre uma qualidade bastante alta, mas as periferias de Itália são as mais feias do mundo e foram construídas enquanto se continuava a dizer que se protegia o centro histórico. Deveríamos ter conseguido criar normas de contenção para o desenvolvimento de periferias, que eram desnecessárias.
AG E quanto ao seu livro Architettura e democrazia, que é quase um manifesto em defesa do dever ético e da responsabilidade pública, política, dos arquitectos?
SS Nesse livro, defendi que o arquitecto tem uma responsabilidade ética a que não pode renunciar. Tal como os médicos têm uma responsabilidade em nome da qual estão vinculados ao juramento de Hipócrates, em que juram que farão tudo para curar o doente e não farão nenhum mal ao paciente, o arquitecto deveria estar sujeito a algo semelhante, deveria seguir este princípio: «Posso fazer muita coisa, mas não posso fazer mal à paisagem na qual opero». Eu inventei assim, quase de maneira lúdica, o «juramento de Vitrúvio», que teve em Itália um certo sucesso. Em algumas cidades, como em Reggio Emilia, a Ordem dos Arquitectos aderiu a essa ideia que propus: um juramento que os vinculasse a valores como bem comum, ética, conhecimento, responsabilidade. O discurso que me senti no dever de fazer é acerca da responsabilidade ética do arquitecto como pessoa que trabalha para os cidadãos e constrói o lugar em que eles vivem. Achei muito interessantes e muito belos alguns textos da arquitecta modernista ítalo-brasileira Lina Bo Bardi — que se formou em Itália, em 1939, mas trabalhou e viveu no Brasil de 1946 até à sua morte, em 1992. Ela lutou toda a vida pela responsabilidade do arquitecto como uma responsabilidade moral e social. O arquitecto não pode construir só porque é pago, tal como o médico não pode aceitar a encomenda, sob pagamento, de matar uma pessoa. Um arquitecto também deve assumir um dever semelhante. Se lhe pedirem para construir um arranha-céus no centro de uma cidade histórica, deve dizer que não. A arquitectura deve ser um aspecto essencial do «direito à cidade».
AG No seu livro sobre Veneza, inspirando-se no livro de Calvino, As Cidades Invisíveis, estabelece uma oposição importante entre o corpo e a alma da cidade. Esta oposição é bastante operativa para analisarmos os fenómenos que danificam hoje as cidades históricas.
SS Conheci Calvino pessoalmente, convivi com ele, falámos muitas vezes um com o outro. Cito Calvino porque o seu livro é muito belo, um livro em que Veneza é representada como cidade oposta à cidade informe, às megalópoles actuais. Mas quis também prestar uma homenagem pessoal a Calvino. Nesse livro, tomo Veneza como símbolo da cidade histórica, onde o tecido urbano vive em simbiose com o ambiente natural, a Laguna. Mas também porque alguns processos em Veneza são mais evidentes que noutras cidades, em particular o despovoamento contínuo. A cidade perdeu dois terços dos seus habitantes nos últimos 50 anos. Perde mil habitantes por ano e continua a esvaziar-se. Uma cidade que perde os seus habitantes deixa de ser uma cidade, a ser verdade que os cidadãos são a alma de uma cidade. Tudo isto sucede sem que se procure analisar e compreender porquê. Mas é simples dizer porquê. Porque sendo Veneza uma cidade extraordinariamente bela e famosa atrai pessoas ricas que compram um palácio junto ao Grande Canal, mas que não o habitam senão uns poucos dias por ano. Na verdade, muitas das casas em Veneza são de segunda habitação e contra isto não se faz nada. Na Suíça, uma lei determina que numa cidade só 20%, e não mais, podem ser casas de segunda habitação. Qual é o efeito deste número enorme de pessoas que em média estão dois dias e meio por ano em Veneza e, portanto, não podem participar na vida da cidade? É uma completa transformação do mercado que faz com que os jovens, os velhos e os pobres não possam viver em Veneza porque não têm dinheiro para isso. Não consigo compreender porque é que nem o presidente da Câmara de Veneza, nem o Estado italiano, nem a região do Veneto, fazem absolutamente nada para travar isto. Se se fez na Suíça, que não é um país comunista, uma lei que limita a propriedade privada, não percebo qual a razão por que não se pode fazer o mesmo em Itália, ainda que de modo experimental, por alguns anos, em Veneza.
AG O título do seu livro, Si Venezia muore, deixa a pairar uma hipótese sinistra.
SS «Si Venezia muore» é uma frase suspensa. A segunda parte da frase é aquela com que o livro termina: «Se Veneza morre, não será só Veneza a morrer: morrerá a própria ideia de cidade, a forma da cidade como espaço aberto e variado de vida social, como criação de civilização, como compromisso e promessa de democracia». Se não se faz nada por uma cidade tão preciosa, como podemos esperar que se faça algo por outras cidades?
AG Veneza como arquétipo de toda a cidade: foi assim que Calvino a representou em As Cidades Invisíveis.
SS Veneza como arquétipo da cidade é uma ideia que Calvino atribui a Marco Polo, que pensou sempre em Veneza enquanto veneziano. Eu não sou veneziano, sirvo-me de Calvino, que também não era veneziano, como mediação. Evidenteprimeira mente, quando digo que se Veneza morrer é também a cidade histórica que morrerá, isto é um modo retórico, não literal, de fazer soar um alarme. Em Veneza estão a acontecer coisas muito graves, mas ninguém faz nada. E isto passa-se no país em que a tradição da tutela do património é a mais antiga do mundo.
AG Há um argumento com que estamos sempre a ser confrontados: ou deixamos livre curso à dinâmica do turismo, ou as cidades históricas não têm possibilidade de se sustentar e de escapar à ruina.
SS É um argumento fraudulento porque pressupõe que os habitantes da cidade existem para servir os turistas e nada mais, tornando-se assim a cidade numa cidade de escravos. Nunca tal aconteceu, ao longo da história. Obviamente, não se trata de proibir o turismo, eu também gosto muito de visitar outros países. E são precisas pessoas que se ocupem de tudo aquilo que o turismo exige. Mas não se pode transformar cidades inteiras em cidades onde só há servidores do turismo. Esse argumento é fraudulento porque parte do princípio de que as actividades criadoras já não existem, de que as cidades nada criam, limitando-se a receber um fluxo de dinheiro sem criarem nada. Ou, na melhor das hipótese, criam receitas culinárias. Por exemplo, um novo tipo de pastaciutta. Ora, não deve ser esta a função de uma cidade. Eu quero uma cidade aberta e turística, mas o verdadeiro impulso do turismo deve ser a curiosidade pela cultura de outro país. A partir do momento em que os turistas só encontram na cidade que visitam servidores do turismo e desapareceram todas as actividades criadoras, a cidade está morta. Veneza ainda tem a Biennale, ainda tem a Universidade. Se os estudantes que estudam em Veneza pudessem habitar na cidade e não tivessem de apanhar o comboio todos os dias para entrar e sair… A Biennale, que foi inventada há mais de cem anos, já foi uma reacção ao declínio de Veneza. Nós continuámos essa invenção dos nossos antepassados, mas não fomos capazes de inventar nada de novo.
AG Veneza tem uma Faculdade de Arquitectura que foi muito importante, nos anos 70 e 80 do século passado. Por lá passaram figuras tão importantes como Tafuri, Rossi, Gregotti. É ainda importante?
SS Ainda é importante, mas poderia sê-lo ainda mais. Poderia ser um lugar de atracção, que faria de Veneza um caso de estudo mundial, não de uma maneira puramente abstracta, como é o discurso da administração para salvar Veneza. A administração é inerte, como se pode ver pelo facto de continuar a permitir que enormes cruzeiros, muito mais altos que o Palazzo Ducale, continuem a aproximar-se perigosamente da Praça de São Marcos. Só se fará alguma coisa quando um dia um desses grandes navios for contra o Palazzo Ducale. Mas não é apenas perigoso, há também o impacto visual negativo que provocam. O Corriere della Sera calculou que os prejuízos que estes navios provocam são maiores do que os gastos que os turistas que neles viajam fazem na cidade, quando a ela descem por umas horas.
AG O conceito clássico de cidade está hoje em perigo?
SS Penso que a cidade está em crise sobretudo porque o processo de globalização induz, de forma inconsciente, a pensar que a cidade do futuro terá um único modelo, que as cidades serão todas iguais, todas caracterizadas por uma expansão indefinida e que a divisão dos bairros é feita segundo o critério do rendimento dos cidadãos: há os bairros dos pobres e o bairro dos ricos, de um lado os condomínios fechados e do outro as favelas, como no Brasil e no México. Desenvolvo isto em Architettura e democrazia. Este modelo de cidade que se expande continuamente é um modelo que neste momento está a triunfar porque continua a verificar-se a deslocação de uma massa enorme da população para as cidades. Em 1850, três por cento da população mundial vivia na cidade, hoje é 54% e dentro de 30 anos será 70%. É um fenómeno muito complexo, do qual não me ocupo. Apenas questiono: é este o único modelo de cidade, ou é possível defendermos a diversidade? Todos os modos de diversidade se têm imposto: na religião, na cultura, na orientação sexual, nas ideias. Não devemos então defender também a diversidades das cidades? Como se vive numa cidade de 40 milhões de habitantes? Eu não quereria viver numa cidade dessas. Defendo que há a possibilidade de um modelo de cidade histórica que tenha a sua própria vida, uma vida criativa, sem pensar que deve expandir-se continuamente, sem pensar em integrar arranha-céus, sem pensar que se deve organizar em função de uma divisão estrita entre bairros de pobres e bairros de ricos. São fenómenos inevitáveis? Talvez não. De qualquer modo, é possível que nalgumas cidades sejam evitados. E uma cidade como Veneza, em que por causa da Laguna o perímetro do centro histórico está bem definido, creio que se presta a funcionar como símbolo.
AG Um dos seus livros tem como título Il futuro del classico. Qual é a sua definição de clássico?
SS A palavra «clássico» significa muita coisa. Por exemplo, há a música clássica, há os clássicos da literatura, etc. Eu não a usei neste sentido. Falei do classicismo greco-romano, do facto de a cultura greco-romana, durante muito tempo, do humanismo até à Primeira Guerra, ter sido a cultura das elites europeias. Dizia-se, em toda a Europa, incluindo na Rússia, que a cultura grega e a cultura romana tinham a função de educar o espírito como nenhuma outra. Mas hoje ninguém pensa assim. Qual pode ser então o futuro da cultura greco-romana? A minha resposta nesse livro, em poucas palavras, é esta: a cultura greco-romana é uma cultura que importa conhecer porque permite articular os conceitos do nosso pensamento. Mas serve ainda mais se nos recordamos que não é verdade, como se pretendia no século XIX, que os gregos e romanos são como nós. São muito diferentes. Se reconhecermos a diversidade daquela cultura, também a sua diversidade interna, porque os gregos da Sicília eram muito diferentes dos da Ásia Menor, e os romanos da província romana da Ibéria eram diferentes dos da província romana da Dácia, se percebermos toda esta diversidade, então a ginástica mental que se faz nesta viagem pelo mundo antigo educa o respeito por outras culturas. A resposta que procuro dar nesse livro é esta: o estudo da cultura clássica, da literatura grega, da literatura latina, da história, da arte, etc., é uma educação ao respeito pela diversidade. Este é o futuro do clássico.

© Rvongher

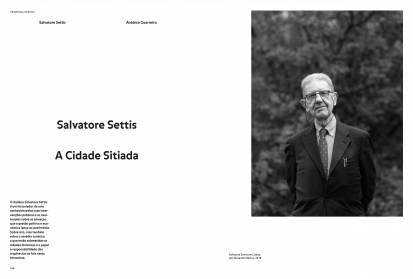



Partilhar artigo