Ao publicar a sua 16.ª edição, a Electra faz quatro anos de existência. Neste tempo que passa, tem sido nossa e dos nossos leitores uma viagem em que as chegadas são sempre novas partidas. Não escolhemos por acaso a palavra «viagem» para falar do que a Electra tem sido. Pensamos que viagem diz melhor do que outras palavras a identidade de uma revista que, tendo como seu propósito lançar um olhar atento sobre aquilo a que chamamos contemporâneo, se faz na intersecção móvel de muitas cronologias, de muitas geografias e mesmo de algumas geologias, procurando o que está no subsolo do que acontece e do que não acontece, do que vai ficando e do que vai passando. Nestes anos que começaram em 2018, as mudanças e as acelerações não pararam de jogar umas com as outras um jogo imprevisível e imparável. Mas, de repente, a pandemia da covid-19 inscreveu o seu nome em maiúsculas sempre crescentes no texto que aparece nos ecrãs onde o nosso tempo se mostra e se diz.
Tudo então se fez ao contrário, excepto aquilo que continua a fazer-se da mesma maneira, na obediência aos poderes e aos saberes que determinam as tendências, os movimentos, os sistemas, os dispositivos, as percepções e as práticas que levam o mundo a ser o que tem sido.
Entre esses poderes e esses saberes, o da tecnologia continuou a expandir o seu império pelas terras, os mares e os céus, e estabeleceu a sua soberania sobre os corpos, os espíritos e as almas (para usarmos uma trilogia de que Fernando Pessoa tanto gostava). Não há hoje mundo objectivo ou eu subjectivo que não tenha dado à tecnologia o lugar de uma nova natureza. A tecnologia conheceu uma universalização ontológica. Não há nada que se faça sem ela e, nesse tudo que se faz com ela, ela tudo transforma e tudo se transforma nela.
Para alguns, este avanço avassalador e incessante abriu à humanidade caminhos faustosos e promissores, nem sequer antes pressentidos ou imaginados, e deu à vida possibilidades jamais premeditadas. Pensam esses que é como se o mundo houvesse recomeçado e tivéssemos regressado a um paraíso onde a árvore da vida que está no centro do jardim é a do conhecimento numérico e digital. Nesse paraíso, a serpente, em vez de ser um animal tentador, é uma criatura tentada por aquilo mesmo que oferece como tentação.
Neste cosmos tecnológico, nada já é igual ao que foi e, com a Inteligência Artificial e a robotização, ainda mal somos capazes de adivinhar o que aí vem. O mundo tornou-se o sítio material e imaterial de uma mudança que tudo muda, mudando-se constantemente a si mesma, numa aceleração vertiginosa e permanente. Nesse mundo, só temos lugar se soubermos pôr o coração do presente a bater em uníssono com a pulsação do futuro. Para isso, as palavras que agora se tornaram mais valiosas, indispensáveis e repetidas são inovar, prever, antecipar, transformar, reinventar, recriar, reestruturar, refazer, reformular, refundar, recomeçar, reiniciar.
Para outros, porém, neste pouco «admirável mundo novo», as antigas e tão fascinantes técnicas de telepatia foram-se mostrando desnecessárias, ultrapassadas e substituíveis por tecnologias uniformizadoras e niveladoras que geram um automatismo mecanizado e digitalizado que faz do lugar-comum a senha de reconhecimento do nosso tempo. Não precisamos de tentar ler telepaticamente o pensamento do outro, porque ele é igual ao nosso. E não precisamos de criar ou conhecer o nosso próprio pensamento, porque ele é igual ao do outro.
Assim, e embora muito se procure, louve e invoque o que é «diferente», o unanimismo, a homogeneização, a massificação passaram a ser compulsões psicológicas, deveres sociais, obrigações morais, prioridades existenciais e condições do sucesso. Segundo os que isso lamentam, não aconteceu, senão parcial e temporariamente, a profetizada, no século XIX, colectivização dos meios de produção, mas está a acontecer, no século XXI, a colectivização dos meios de criação, transformados em meios de recriação, de recreação, de reprodução, de repetição e de entretenimento.
Em contraste com os apóstolos optimistas dos «amanhãs que cantam» da revolução tecnológica digital, estes nostálgicos dos «ontens que cantaram» da estabilidade analógica são os profetas pessimistas do declínio irreversível e da desumanização decadente que vêem, da política à sociedade, da economia à cultura, da educação à ciência, tudo ser assaltado e invadido por aquilo a que nem sequer chamam pensamento único, pois ao que isso é e representa não podem nem querem dar o nome de pensamento.
Tendo esses apóstolos e esses profetas a contemplá-lo das margens, o rio de Heraclito não para de correr e de acelerar. Mais do que em qualquer outra, é nestas alturas que é preciso não desistir de pensar. É necessário pensar sem fazer desse desejo e da vontade que o cumpre uma prevalência aristocrática, um privilégio espiritual ou uma altivez intelectual, mas é também essencial não confundir pensamento com os simulacros simplistas, pueris e grosseiramente utilitários e mercantis que o falseiam e que apenas servem para disfarçar a sua ausência e a sua falta.
Olhar o tempo com a distância que o deixa ver é, desde o seu início, o propósito programático e o projecto editorial da Electra. As palavras e as imagens que lhe dão forma e conteúdo trazem até nós as ideias e as ideologias, as tendências e as tentações, as sensibilidades e as visões que configuram o nosso mundo e o tempo em que ele se faz e se desfaz todos os dias.
Pensar criticamente, criando hipóteses e argumentos, é tentar construir, com o que pensamos, um inteligível que é inseparável de um sensível. Pensar com os que pensam é prosseguir um caminho que não sabemos nunca aonde vai dar. Como lembrámos no nosso primeiro número, citando Michel Foucault: «Momentos há na vida em que a questão de saber se é possível pensar de outro modo daquele que se pensa e perceber de outro modo daquele que se vê é indispensável para continuarmos a observar ou a reflectir.»
A Electra faz, desde há quatro anos, uma viagem que, em cada edição, aumenta, como na odisseia de Ulisses, o conhecimento do mundo e a experiência da travessia. O nosso mapa é desenhado por essa viagem feita com os leitores, a olhar os horizontes onde aparecem os sinais do futuro e do passado, da descoberta e do reconhecimento. É nesses sinais que procuramos um sentido, mesmo quando esse sentido não aparece — e a ausência desse sentido também tem um sentido e um significado.
Analisar, perspectivar, relacionar, investigar, interpretar, decifrar, avaliar, perscrutar, criar — são verbos que declinam formas de pensamento activo, crítico, criativo e contemplativo. Em cada número da revista, tratamos assuntos e temas que, de tão presentes na nossa vida, não raro se tornam invisíveis ou «naturais». Num caso e noutro, não suscitam perguntas. Para pensar esses assuntos e temas, procurando identificar e interrogar os seus antecedentes e consequentes, é muitas vezes fundamental mudar de escala e de olhar. Por isso, partimos frequentemente da parte para o todo, do perto para o longe, do dentro para o fora, do singular para o plural, da regra para a excepção, do território para a fronteira, do idêntico para o diferente.
Os antropólogos nunca desistem de nos dar informações para podermos compreender melhor de onde vem e como é o que nos acontece e o que nós fazemos acontecer. Com o seu poder de sintetizar as análises, Claude Lévi-Strauss afirmou que «a humanidade está constantemente perante dois processos contraditórios, em que um tende a instaurar a unificação, enquanto o outro visa manter ou restabelecer a diversificação» (Raça e História).
Sucessora de Claude Lévi-Strauss no Collège de France e no Laboratório de Antropologia Social, Françoise Héritier pensou o idêntico e o diferente a partir de pesquisas e trabalhos de campo de uma grande originalidade e revelação.
No livro que tem por título L’identique et le différent, diz esta antropóloga:


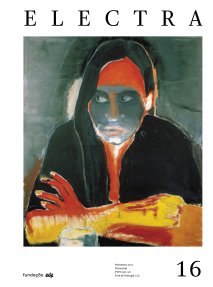




Partilhar artigo