Enquanto folheia e consulta o livro de contas que dá conta dos feitos amorosos, vai-os enumerando no canto e acentua pela repetição os números que acusam e incriminam «il dissoluto punito». Ao escutar as contas feitas por Leporello, Donna Elvira, indignada e justiceira, promete um ajuste de contas sem piedade nem descanso.
Mas, se o código moral for outro, aqueles números que acusam e condenam passam a enaltecer e a glorificar. Diz-se que o rei emérito de Espanha, Juan Carlos I, no meio da provação e do descrédito do seu actual estado, conseguiu encontrar ainda um motivo de júbilo ao ler que um cálculo por baixo concluía que o número das suas aventuras amorosas chegava a cinco mil. Conta-se que, velho e doente, ainda compunha um ar soberano e dizia aos amigos que lhe restaram, com uma altivez borbónica na voz: «Cinco mil! Que tal?! Não está nada mal!» E, arrancada ao fundo da sua negra melancolia, soltava uma gargalhada larga, livre e donjuanesca!
Sabe-se que Lorenzo Da Ponte se motivou, para escrever o libreto desta ópera, na espantosa e espampanante figura de Giacomo Casanova, que, aliás, dele teve conhecimento, dando até ao libretista sugestões de alteração que foram bem acolhidas. Mais tarde, quando saíram as memórias autobiográficas do incansável sedutor, frenético aventureiro e escritor veneziano — História da Minha Vida —, observou-se que há também nelas uma enumeração minuciosa dos seus triunfos amorosos (mas também dos fracassos), que compete com o catálogo que Leporello fez dos famigerados sucessos de Don Giovanni.
A ligação entre os números e a moral é de sempre. Os números julgam, decidem e sentenciam. Os livros sagrados, os tratados morais, as criptografias esotéricas, as simbologias herméticas, os códigos judiciais, os regulamentos militares, as leis laborais, as normas disciplinares, as classificações comportamentais, as notificações penitenciárias dão às palavras os números que as quantificam e tornam mais performativas e avaliáveis. São os números que dão a dimensão do crime e do castigo. São eles que os atenuam e os agravam.
Pitágoras afirmou: «Os números governam o mundo.» E acrescentou: «Toda a coisa é número.» Da Tora (nomeadamente, o Livro do Génesis e o Livro dos Números) à Cabala, de Pitágoras a Wittgenstein, de Platão a C. S. Peirce, de Aristóteles a São Tomás de Aquino, de Descartes a Bertrand Russell, de Pascal a Leibniz, de Espinosa a Frege, do sistema numérico ideográfico chinês aos algarismos indo-arábicos, do número de ouro ao calendário azteca, os números são um outro código, uma outra língua, uma outra face, um outro universo.
Estão no centro de um círculo que não mais parou de se alargar. São claridade e enigma. São conceito, símbolo e operador. São naturais, dígitos, inteiros, fraccionários, complexos, racionais, irracionais, reais, imaginários, primos, pares, ímpares, positivos, negativos, contáveis, computáveis. São peso, conta, medida, ordem, juízo, prova, demonstração, realidade, imaginação, construção, regra, adivinhação, possibilidade, probabilidade, previsão. São ciência, filosofia, técnica, arte, literatura, política, medicina, economia, história, sociologia, antropologia, semiologia, sexologia.
Segundo um certo caminho de investigação filosófica, ao qual Heidegger não está alheio, é à luz da distinção fundamental entre nome e número que se pode observar, na história do pensamento ocidental, a crescente submissão do nome ao número e a ocultação, a desconsideração e mesmo a desvalorização de tudo o que é incalculável.
Isto significa a subordinação do pensamento verbal, poético, ontológico, meditativo e qualitativo ao pensamento numérico, calculador, pragmático, utilitário e quantitativo, que impõe o pensamento físico do estar e do ter ao pensamento metafísico do existir e do ser.
Para os que defendem esta tese, foi deste modo e com este fundamento que se constituiu, desde o início da Idade Moderna, a racionalidade ocidental, cujos método e finalidade representam a redução ao numerável e ao calculável de tudo, desde o Universo ao ser humano, do sujeito ao objecto, da vida do espírito à vida da matéria. Para Heidegger, é isso que afinal explica que o barulho altivo e mecânico das máquinas tenha coberto e ensurdecido a voz dos deuses, cuja ausência presente Hölderlin procurava ainda escutar no mundo.
Para Heidegger, na modernidade o homem torna-se sujeito e o mundo faz-se imagem. No ensaio «O tempo da imagem no mundo» (Caminhos de Floresta), diz que «os números apresentam como que o mais patente sempre-já-conhecido», comenta a relação equívoca da exactidão com a inexactidão e fala de uma confrontação de mundividências, afirmando: «Para este combate das mundividências, e de acordo com o sentido desse combate, o homem põe em jogo a violência ilimitada do cálculo, da planificação e do cultivo selectivo.»
Se isto foi assim e ainda se tornou mais assim no começo da Idade da Técnica, na era digital, competitiva e global em que vivemos, os números impuseram-se como nunca e são hoje a medida de todas as coisas. Passámos a viver num regime de moral numérica. Nesse regime, e para usarmos conceitos de Espinosa, os números não são apenas atributos (ou acidentes, como diria Aristóteles) da moral: constituem mesmo a sua substância. Tudo se quantifica, conta, mede, pesa, computa, numera, ordena, categoriza, cataloga, para disso fazer objectivos, metas, avaliações, juízos, julgamentos, escolhas, discriminações, imposições, veredictos. E também para gerar culpa ou absolvição, má ou boa consciência, permissão ou censura, automatismo e autodomínio, subordinação e identificação, diferenciação e desigualdade.
Vivemos rodeados de números (cardinais e ordinais). Vivemos a produzir relatórios, estatísticas, sondagens, inquéritos, rankings, ratings, tops, templates, escalas, algoritmos, gráficos, fórmulas, modelos, matrizes, médias, controlos, vigilâncias. Cada palavra, cada acto, cada gesto é regido, registado e aferido por um qualquer número de um qualquer código numérico. Os números também são hoje grandes protagonistas da «sociedade do espectáculo» (político, mediático, cultural, económico, financeiro, social), passando da caixa do ponto para o centro do palco. E são também uma nova doxa, uma nova crença, e até um novo determinismo.
Mallarmé disse que tudo o que existe no mundo é feito para acabar nas páginas de um livro. Poderemos hoje dizer que tudo o que existe no mundo é feito para acabar em folhas de Excel. Os nominalistas, antigos e modernos, têm agora uns novos sucessores: os numeralistas.
A esta tendência da racionalidade técnico-científica-digital-numérica somou-se a financeirização universal, que inverteu a lei da passagem da quantidade à qualidade, postulada pelo materialismo dialéctico, estabelecendo agora que toda a qualidade carece, para ser qualidade, de se tornar uma quantidade. E, muitas vezes, fazendo do preço o único valor.
Já Oscar Wilde, com o seu instinto aguçadamente perspicaz e o seu humor astuciosamente profético, anunciava e denunciava: «Hoje em dia, conhecemos o preço de tudo e o valor de nada.» E também ironizava, advertindo: «Hoje em dia, os jovens imaginam que o dinheiro é tudo. Quando envelhecem, ficam a ter a certeza disso.»
Não há que proceder à demonização nem à divinização dos números. Afinal, como exclama Fernando Pessoa / Álvaro de Campos:



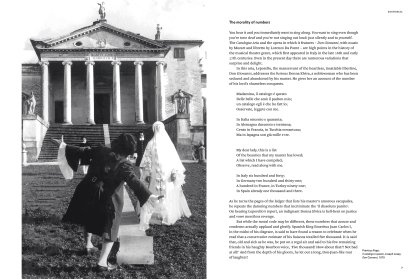



Partilhar artigo