Anunciado muitas vezes ao longo do século XX, à mediada que cresceu o espectro da «desocupação tecnológica», o fim do trabalho tornou-se um tema forte com a emergência das novas tecnologias digitais, com o desenvolvimento das máquinas inteligentes que substituem os humanos na produção. Este artigo percorre os vários anúncios do fim do trabalho (ou, pelo menos, do emprego), incidindo sobretudo num debate contemporâneo sobre a «crise do trabalho», que ora ganha uma feição utópica, ora traça um cenário apocalíptico.
Um livro publicado em 1995 nos eua e imediatamente traduzido em várias línguas, da autoria do economista e sociólogo Jeremy Rifkin, tornou-se um best seller e objecto de discussões e polémicas que atravessaram fronteiras nacionais e disciplinares. O livro tinha um título eloquente e categórico, The End of Work, o que acabou por ocultar o subtítulo que lhe dava o tom mais consistente de uma investigação desenvolvida ao longo de cerca de quatrocentas páginas: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era. A recepção crítica do livro foi de extremo a extremo, ora foi acusado de charlatanismo, ora obteve elogios superlativos, ao ponto de se considerar que ele anunciava — recolhendo e analisando uma abundância de dados e números relativos às transformações da sociedade do trabalho ao longo do século XX — «a mais colossal convulsão antropológica e sociológica que a humanidade jamais conheceu. Só a revolução neolítica pode comparar-se com ela em importância». Encontramos esta afirmação hiperbólica num posfácio à edição francesa do livro de Rifkin, da autoria do sociólogo Alain Caillé.
A tese de Rifkin é muito simples e, como veremos, não tem nada de novo, muito embora conheça diferentes modalizações: está em curso uma automatização integral e generalizada do trabalho que a informatização da sociedade iniciada nos anos 60 do século passado veio acelerar. As novas tecnologias da informação e das telecomunicações e, em geral, o desenvolvimento da «inteligência artificial» (um conceito criado no Verão de 1956, em Dartmouth, por ocasião de um encontro de investigadores nesta matéria) disseminaram progressivamente os robots e toda a espécie de máquinas inteligentes aos vários sectores da produção. Como resultado, estamo-nos a aproximar de um mundo sem trabalhadores, de uma redução tão drástica do trabalho humano que em meados do século XXI — nas previsões de Rifkin — só 5% da população adulta será necessária para assegurar o funcionamento do sector industrial. Tendo em conta a velocidade a que avança a automatização e a smartification (na infra-estrutura da sociedade automática devemos colocar o sistema global em rede chamado Internet), Rifkin sentiu-se apto a anunciar o fim próximo da sociedade do trabalho e o efectivo colapso do modelo de racionalidade económica que lhe corresponde.
Assim descrita no seu núcleo teórico fundamental, a tese de Rifkin não parece constituir grande novidade. Muito antes dele, já os sociólogos da Escola de Frankfurt tinham criado o conceito de «desocupação tecnológica». Mas o seu livro teve o efeito de desfazer com crueldade todas as ilusões que pudessem subsistir, mesmo depois de a automatização e os seus efeitos se revelarem visíveis. Na verdade, está instaurado um mecanismo de denegação e tudo continua a ser feito, em termos políticos, para preservar uma sociedade organizada em função da centralidade do trabalho, como se o pleno emprego continuasse a ser uma meta alcançável e o estado normal — e único — de funcionamento de uma economia. Assim sendo, o desemprego só pode ser uma anomalia que ocorre em tempo de «crise», como se a crise não fosse, afinal, o que vigora em permanência. Se a realidade mostra que este pensamento se tornou inadequado, então altera-se a visão da realidade através das palavras e dos conceitos: emprego e desemprego, no tempo da uberização, da precariedade, da intermitência e das invenções engenhosas de ocupação do tempo, já não abrangem o mesmo universo nem significam o mesmo que significaram na época iniciada pela automatização levada a cabo desde o taylorismo, aquela em que se deu uma substituição da potência física dos corpos e dos músculos pelas máquinas. Ora, Rifkin mostra que, com a automatização, a normalidade está do lado do desemprego e que nem tem sentido, nesta nova ordem, continuarmos a pensar que o par de categorias opostas, emprego–desemprego, tem ainda uma pertinência analítica e descritiva. Está criada uma entropia e ela é bem visível nos níveis de «desemprego» nas camadas jovens, mesmo entre aqueles que têm qualificações e estudos elevados. A inteligência artificial substitui-os com grande vantagem para os preços de produção. Em Outubro de 2014, um canal francês de televisão emitiu uma reportagem, citada por Bernard Stiegler em La Société automatique (2015), que se chamava «Vous serez peut-être remplacé par un robot en 2025».
A insistência numa ordem económica que tem sempre no seu horizonte o pleno emprego — ou que, pelo menos, sente a necessidade de salvar essa aparência a todo o custo — faz com que seja tão difícil introduzir inovações, tais como a redução do tempo de trabalho e novas formas de distribuir a massa de trabalho que ainda está por conta dos humanos. E aí temos, então, uma sociedade cada vez mais disfuncional quanto à questão do trabalho. Rifkin descreve-a desta maneira: de um lado está uma elite que tem de facto trabalho, mas, paradoxalmente, tem cada vez menos tempo (não dispor do seu tempo é o que define a condição proletária, por isso é que se deu uma proletarização da classe média); e há depois os outros, a massa de desempregados, de precários, de supranumerários, de camadas da população que, mesmo tendo trabalho, não sai da situação de pobreza. André Gorz, o sociólogo francês que é hoje uma referência fundamental no estudo das transformações do trabalho e suas consequências, escreveu que a mensagem ideológica da sociedade do trabalho e dos assalariados era a de que «pouco importa de que emprego se trata, o importante é ter um». A partir do momento em que o emprego, em si, já é uma conquista, a mensagem passou a ser: «Pouco importa o montante do salário, desde que tenha um emprego.»


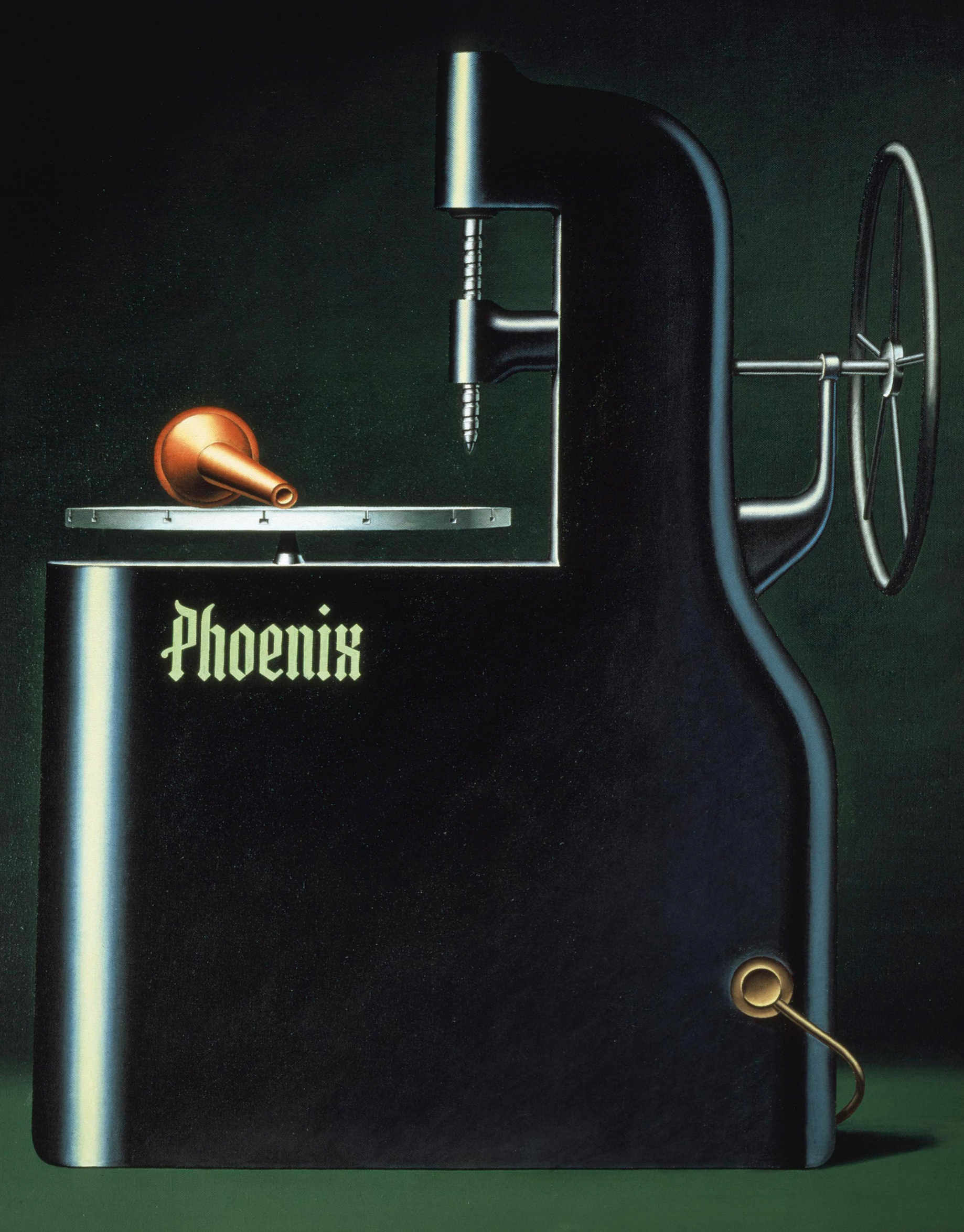





Partilhar artigo