Simon Critchley é professor de Filosofia na New School for Social Research em Nova Iorque. Especializou-se em filosofia continental e fenomenologia, e desempenhou um papel central na recepção de pensadores como Emmanuel Levinas, Jacques Derrida e Martin Heidegger no mundo anglófono. Ultimamente, tem explorado a escrita experimental — incluindo a publicação do livro semi-autobiográfico Memory Theatre (2014) — e ganhou um lugar de destaque entre a rede vanguardista International Necronautical Society. O seu trabalho filosófico cruza os mais variados interesses: música, comédia, poesia, tragédia grega e David Bowie, Samuel Beckett e o futebol do Liverpool. Critchley tem lutado por tornar a filosofia um recurso acessível da cultura contemporânea — através, por exemplo, da coluna de opinião «The Stone», que organizou para o New York Times e que atraiu milhões de leitores, de colaborações regulares no Guardian ou de debates públicos de alta visibilidade —, sendo considerado por muitos um dos filósofos mais influentes da actualidade. É autor de quase trinta livros, alguns dos quais — como foi o caso de Very Little… Almost Nothing (1997), Infinitely Demanding (2007), The Faith of the Faithless (2012), Notes on Suicide (2015) ou Em que Pensamos Quando Pensamos em Futebol (2017) — vieram despertar um debate intelectual aceso. Simon Critchley conversa com a Electra sobre o percurso de vida que o levou da carreira de músico em bandas punk nos anos 70 ao estudo da filosofia numa universidade francesa, sobre a importância da tragédia e do futebol, sobre a desilusão política e a necessidade imperativa de uma filosofia pública.
Simon Critchley, um dos filósofos mais prolíficos e populares das últimas décadas, fala com a Electra sobre alguns dos variados temas que têm vindo a orientar o seu trabalho, desde o lugar da filosofia na sociedade contemporânea à desilusão com a democracia liberal, da importância cultural do futebol até ao desafio de uma escrita autobiográfica.

René Magritte, Les vacances de Hegel [As férias de Hegel], 1958 © Fotografia: Scala, Florença / Christie’s Images, Londres
AFONSO DIAS RAMOS O que o levou à filosofia e como foi acabar no Sul de França a tentar enterrar de vez a metafísica?
SIMON CRITCHLEY A resposta é: os professores. Desperdicei a minha juventude e abandonei a escola aos dezasseis anos, após chumbar a tudo excepto a Geografia. Trabalhei em fábricas e em piscinas. Como compunha, achei que era apenas uma questão de tempo até a minha banda se tornar um sucesso. Não aconteceu. Fiquei frustrado. Depois sofri um acidente de trabalho grave quando tinha dezoito anos e isso acabou por redefinir a minha vida. Regressei à escola para concluir o secundário, e nessa altura comecei a ler a sério. Entrei para a universidade com vinte e dois anos. É sempre bom ser-se ligeiramente mais velho na universidade. Fui estudar Literatura Inglesa e Europeia. Andava fascinado com James Joyce e outros escritores. Quando cheguei à Universidade de Essex, fiquei extremamente impressionado com os professores, incluindo Jay Bernstein, que ainda hoje é meu colega. A filosofia oferecia-me a liberdade de pensar do modo que eu queria. Estudava à minha maneira, à mistura com outros interesses e lendo os livros que queria. Tendo em conta que muitos desses livros eram escritos em francês, comecei a acalentar a ideia de receber o dinheiro do doutoramento e ir viver para França. O meu plano era simples: pegar no dinheiro e fugir. Dei por mim em Nice. Não era uma universidade da moda, mas tive excelentes professores, como o meu mentor Dominique Janicaud e o ainda mais famoso Clément Rosset. Foi em França que aprendi a fazer investigação e a utilizar as bibliotecas. Também era obrigado a escrever numa língua estrangeira, o que ajuda muito a clarificar as ideias. É possível estudarmos filosofia sozinhos, mas ajuda ter professores.
ADR O seu primeiro livro, The Ethics of Deconstruction (1992), saiu ao mesmo tempo que a recusa da Universidade de Cambridge em dar o título honoris causa a Derrida. Como foi essa experiência? E esse equívoco de que a desconstrução consistia num niilismo sem valores não estará a regressar em força?
SC A toda a força, sim. Temos aturado esse tipo de caricatura que aparece sempre associada a Derrida, mas também a Foucault, como se fossem os responsáveis pelo relativismo cultural. Há idiotas como o Jordan Peterson que argumentam isso, e nem sequer vale a pena tentar refutá-los, porque estão completamente errados. No entanto, o facto de essa ideia ainda existir enquanto estereótipo é interessante. Outro aspecto de que o próprio Derrida chegou a dar conta é o de que o termo «desconstrução», que apresentou apenas como tradução de alguns escritos de Heidegger, estava destinado a uma extraordinária incompreensão e generalização. Até no Campeonato Mundial de Futebol no Qatar se fizeram referências à desconstrução das equipas! Algumas palavras acabam por ter um destino muito distanciado do significado original. No meu caso, talvez me tenha apercebido de que havia algo a pairar no ar. Em 1986, dei início ao meu doutoramento sobre Levinas e Derrida, porque se tinha escrito muito pouco sobre ambos. Tive a intuição de que havia uma dimensão ética no trabalho de Derrida que se relacionava com o seu entendimento de Levinas, algo nunca articulado antes. Passado algum tempo, uma editora independente aceitou publicar aquilo que viria a ser o The Ethics of Deconstruction. Saiu por altura do caso de Cambridge com Derrida. Por sorte, isso tornou-se notícia de primeira página. Uma das parangonas do Independent afirmava mesmo: «O niilismo cognitivo atingiu a cidade inglesa.» E depois apareceu o meu livro a defender que existe uma dimensão ética nisso tudo. O timing ajudou-me muito. É imensamente gratificante saber que o livro ainda se encontra em circulação. Mas o preconceito contra o trabalho de Derrida permanece, e não vejo sinais de abrandamento. Se isso significasse que as pessoas iriam de facto ler a obra de Derrida com mais atenção, seria óptimo. Mas não é o caso. Henri Bergson também era o filósofo mais famoso do mundo, e foi rapidamente esquecido pela geração seguinte. Tivemos de esperar pelo trabalho de Deleuze sobre Bergson para que fosse novamente discutido. Com Derrida é semelhante. Era um filósofo importantíssimo, havia uma atmosfera quase apostólica à volta do seu trabalho, com discípulos e seguidores… No entanto, o trabalho de Derrida exige uma leitura intensa de textos primários, e nós já não habitamos esse mundo. Vivemos num mundo de definições da Wikipédia. Por isso, embora se continue a publicar material excelente sobre Derrida, não estou certo do seu legado.
ADR Quando escreveu Infinitely Demanding, ainda trabalhava com ideias de Levinas, mas reduziu as referências a Derrida a uma única nota de rodapé.
SC Foi deliberado. No final dos anos 90, estava a tentar recuperar do trabalho de Derrida. A invenção do computador foi terrível para ele. Escrevia com enorme fluência numa máquina de escrever, mas quando arranjou computador, passou a escrever ainda mais! A questão que se punha era: qual a obra central de Derrida? É possível dar vinte respostas diferentes. O mesmo não acontece com Foucault, que tem apenas cinco ou seis obras maiores, podendo privilegiar-se uma ou outra. Com Derrida, existem demasiadas coisas. No final dos anos 90, também estava a tentar responder aos protestos de Seattle, ao começo do movimento antiglobalização e a uma nova radicalização à esquerda. Tudo isso levou-me a procurar uma maior economia de ideias e expressão. Infinitely Demanding foi uma tentativa de escrever um livro breve que apresentasse a minha posição sobre estes assuntos do modo mais preciso possível, com uma grande clareza conceptual. Derrida tornou-se menos importante, e Alain Badiou, com quem aprendi a economia da expressão e uma precisão de elocução, tornou-se então mais importante. Infinitely Demanding era também uma tentativa de intervir num contexto político que ia desde o movimento Occupy até à Praça Tahrir, e Derrida não encaixava no argumento. Na verdade, Derrida era uma figura complicada. Eu era próximo dele, mas não seu seguidor. Ele tinha uma relação estranha com a crítica. Em Ethics of Deconstruction, apresentei uma forte crítica ao seu trabalho sobre política, juízo e decisão. Não gostou, e foi cada um para seu lado. A relação recuperou, mas ele era muito schmittiano, ou se era amigo ou inimigo. Claro que, o trabalho de Derrida não é nada sobre isso. É sobre como explorar ambiguidades e hesitações nos textos, sobre demonstrar como os textos são largamente escritos contra si mesmos.
[...]

As três espécies de amizade, miniatura de Ética, Política, Economia, de Aristóteles, manuscrito, fólio 127 verso, França, século XV © Fotografia: Scala, Florença / Bibliothèque Municipale, Ruão


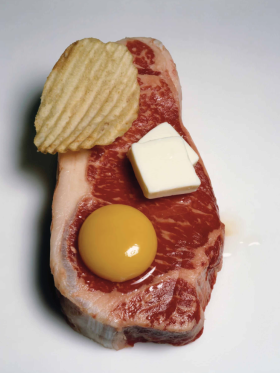

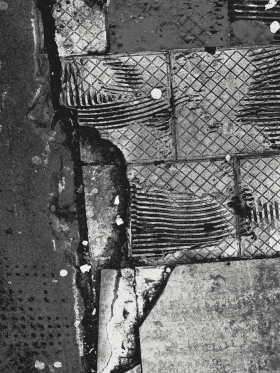
Partilhar artigo