Assim começava o «sermão» de Benjamin Franklin:
«Tempo é dinheiro»: nenhuma fórmula define melhor o poder absoluto desta divindade terrena que comanda até as categorias da nossa experiência do que esta, com a qual Benjamin Franklin abre os seus Advice to a Young Tradesman (1748), que Max Weber cita com grande destaque e analisa no segundo capítulo de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo.

James Ensor, Groteske Zangers [Cantores grotescos], 1891 (detalhe)
Lembra-te que tempo é dinheiro. Aquele que podendo ganhar dez xelins por dia com o seu trabalho se passeia ou se senta, ocioso, metade desse dia, embora gaste apenas seis centavos na sua diversão e ociosidade, não deve apenas contabilizar essa única despesa; na verdade, ele gastou, ou melhor, deitou fora, cinco xelins.
Lembra-te que o crédito é dinheiro. Se um homem põe o seu dinheiro nas minhas mãos por mais tempo que o devido, está a dar-me juros, ou tudo o que eu possa fazer com ele durante esse tempo. O que pode chegar a uma soma considerável se eu beneficiar de um bom e amplo crédito, e fizer dele um bom uso.
Lembra-te que o dinheiro é, por natureza, prolífico e gerador. O dinheiro pode gerar dinheiro, e esse produto gerar ainda mais, e assim por diante […]. Quanto mais dinheiro houver, mais ele produz, de maneira que os juros crescem cada vez mais rapidamente. Aquele que mata uma porca criadora, destrói sua descendência até à milésima geração.
Esta lição tão simples, que todos nós hoje sabemos de cor, é na verdade um saber de consequências enormes, como é bem visível. E embora actualmente o dinheiro esteja a cargo, em primeiro lugar, da «ciência» da economia e finanças, ele cruzou-se, enquanto eterna e poderosa questão, com outros campos: a teologia, a antropologia, a psicanálise, a sociologia, etc. Não há lugar onde ele não reine ou, pelo menos, não se intrometa. Por isso é que no nosso tempo se fala de dinheiro — da sua presença e da sua ausência, do seu excesso e da sua falta — como outrora se falava de Deus. O que não é assim tão estranho, uma vez que as questões metafísicas e da fé estão hoje, mais do que nunca, alojadas no dinheiro (basta pensar na etimologia da palavra fiduciário). Por isso é que, desde Aristóteles, ele foi sempre objecto de interrogação por parte de filósofos e uma questão para a Igreja, bem presente nos discursos dos últimos Papas, que viram o poder profano do dinheiro ameaçá-los de perto, nos escândalos financeiros do Vaticano.
A natureza do dinheiro está longe de ser uma questão para economistas. O filósofo americano John Searle definiu-o como «uma função de status». O que ele quis dizer foi que ao dinheiro é atribuída uma função que só pode ser cumprida em virtude da aceitação colectiva desse status. Dito de outro modo: o dinheiro tem valor em virtude de um tácito acordo colectivo, porque todos pensam que o dinheiro tem valor. Ele é o alfa e o ómega de tudo: gerador de empreendimentos, de crises, de alucinações, de megalomanias, motor de acelerações, transformações, rupturas, desigualdades. Omnipresente, omnipotente e omnisciente. É a razão em estado exasperado, dialecticamente convertida em loucura, como sugere o título de um livro de Alain Minc, insuspeito economista liberal e dirigente empresarial: L’argent fou.
Pensar hoje o dinheiro é pensar aquilo que atravessa o mundo a uma velocidade instantânea, configurando-o e configurando tudo o que nele acontece, da economia à política, da sociedade à cultura, do jornalismo à religião, como se o dinheiro não tivesse exterior. Neste dossier, várias abordagens e várias perspectivas concorrem para tornar mais claro aquilo de que falamos quando actualmente falamos de dinheiro.
Este olhar sobre o dinheiro, abarcando um vastíssimo horizonte, deve muito a um filósofo e sociólogo (ou, talvez, um sociólogo filósofo) chamado Georg Simmel. Na última década do século XIX, Simmel tomou consciência dos impasses da modernidade e das suas patologias. Daí resultou essa obra grandiosa, Filosofia do Dinheiro (1900), que constitui a base de todos os seus ensaios posteriores sobre a civilização moderna. Trata-se de um diagnóstico histórico que procura apreender a significação cultural e o impacto antropológico do dinheiro, a relação que ele instaurou com a vida humana e o que ele implica de tão profundo e inevitável na nossa relação com os outros, connosco próprios e com o mundo. Assim entendido, o dinheiro integra-se na categoria daqueles fenómenos sociais que têm repercussão em todos os domínios da sociedade e nas suas instituições, aos quais Marcel Mauss chamou «facto social total». Se o dinheiro constitui, para Simmel, o ponto de partida para formular um diagnóstico do presente, é porque ele ganhou uma importância capital no mundo moderno. Ou, como diz Marx na sua crítica da economia política, «o dinheiro tornou-se o único nexus rerum», isto é, o nó das coisas que liga todas as pessoas.
O diagnóstico que Simmel fez em Filosofia do Dinheiro apresenta-se, tal como acontece em muitos dos seus ensaios, como uma hermenêutica dos fenómenos de superfície: uma manifestação material específica da vida moderna é elevada a um sentido onde se traça «uma linha directa que vai da superfície do devir económico aos significados últimos do homem na sua totalidade», como podemos ler no prefácio desse livro. Partindo da ideia de que as trocas económicas constituem uma forma originária de socialização, Simmel compreendeu que o dinheiro é aquilo que torna comensuráveis todos os bens, ainda que eles tenham valores de uso completamente diferentes, e aprofunda as reflexões de Marx sobre o dinheiro como «equivalente geral». Assim, para o autor de Filosofia do Dinheiro, este tem um uma dupla valência: por um lado, é um valor que tem uma função de medida nas trocas e de representação dos valores; por outro lado, reduz-se a mero «signo ou símbolo» que não possui nenhum valor, «como um símbolo matemático que substitui os valores sem valor». Daí, conclui Simmel, quanto mais o dinheiro se torna puramente simbólico, mais ele evolui, de «dinheiro-substância» para «dinheiro-função», servindo uma ligação universal entre os humanos. Mas esta ligação é puramente abstracta, como abstracta é a existência que o homem leva nas grandes metrópoles (que foram, para Simmel, um laboratório onde se condensou a moderna «vida do espírito»). Simmel não podia ainda saber a que ponto iria chegar esta abstracção, a que estado hiperbólico iria chegar no nosso tempo a financeirização da economia, mas a sua filosofia do dinheiro é, em muitos aspectos, uma análise de espantosa antecipação. Ele percebeu, como ninguém, que o dinheiro deve o seu valor por ser um meio, mas acabou por se tornar um fim último: em última instância, não há outro desejo que não seja o do dinheiro, que é a própria potência do desejo, o puro poder-desejar. «A polaridade interna da essência do dinheiro», diz Simmel, consiste no facto de ele, sendo muito embora um meio absoluto, se ter tornado, psicologicamente, para o espírito subjectivo, um fim absoluto, um «Deus na terra», omnipotente, símbolo da modernidade tardia em que toda a vida do homem foi congelada nos esquemas da economia monetária. Ou, como escreveu Marx, o dinheiro é um poder universal capaz de «reduzir a representação à condição de realidade, e a realidade à condição de simples representação». O dinheiro, pelo menos tal como ele se apresenta na actividade bolsista, produz um homem desenraizado, flutuante, caprichoso e sem unidade interior. Um «homem sem qualidades», neutro, para além do bem e do mal. Simmel viu nele a origem e a causa da despersonalização do homem moderno, tanto a nível social como a nível individual. Na verdade, a única qualidade que define o dinheiro e o caracteriza enquanto tal é a quantidade, a grandeza exclusivamente quantitativa. É pela quantidade que ele se torna uma intensidade. E a sua lei primeira é a do fluxo: o dinheiro flui e faz fluir, atravessa os continentes em alta velocidade, às vezes à velocidade da luz. O capitalismo baseia-se nesta lógica circulatória que o dinheiro, a «moeda viva», realiza: «A circulação do dinheiro é o modo de tornar o débito infinito», como escreveram Deleuze e Guattari no seu Anti-Édipo. Há quem prefira dizer «débito absoluto», como aquele que se tem para com Deus. E esta designação ganha muita razão de ser nos momentos — como aqueles que conhecemos de maneira extrema ainda há poucos anos — em que se torna evidente o vínculo que liga a palavra «débito» à palavra «culpa». Endividada, segundo uma velha doutrina que deu lugar a tanta especulação, é a própria vida. E é a este débito natural que corresponde a forma do dinheiro. Entendê-lo apenas do lado da economia monetária seria falhar completamente a sua origem e o seu alcance, o excesso que ele produz ao capturar toda a nossa vida.

James Ensor, Les mauvais médecins [Os maus médicos], 1895
© Fotografia: Scala, Florença / The Museum of Modern Art, Nova Iorque
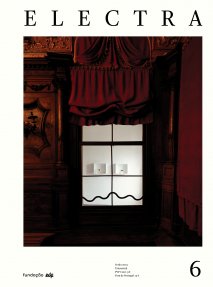
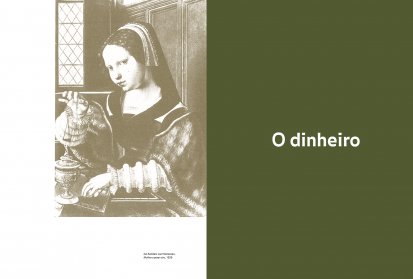



Partilhar artigo